A nova doutrina de Trump: como a América Latina virou alvo central da indústria de lawfare dos EUA
- Rey Aragon

- há 2 minutos
- 22 min de leitura

A Estratégia de Segurança Nacional de Trump transforma a América Latina em “zona interna de segurança” e inaugura uma máquina sistemática de coerção jurídica, econômica e informacional — com o Brasil no epicentro.
A nova doutrina de segurança dos EUA não é apenas um documento: é o blueprint de uma indústria de lawfare pronta para operar em escala hemisférica. Sob o “Trump Corollary”, Washington passa a tratar qualquer movimento soberano brasileiro — da regulação das big techs ao controle de recursos estratégicos — como ameaça à segurança dos EUA. O resultado é uma engrenagem de sanções, narrativas, intervenções jurídicas e guerra informacional desenhada para enquadrar, disciplinar e desestabilizar a América latina. O laboratório de 2005 virou política oficial. E o impacto será devastador.
Introdução

A nova National Security Strategy anunciada por Donald Trump nesta semana não é apenas mais um documento de política externa. Ela é a formalização, em linguagem de Estado, da maior e mais sofisticada máquina de lawfare já desenhada contra outros países desde o fim da Guerra Fria. Sob o pretexto de defender a segurança dos Estados Unidos, o texto transforma o direito, os tribunais, as sanções econômicas, os acordos de cooperação jurídica e até a retórica de direitos humanos em instrumentos centrais de coerção política. No centro dessa engrenagem, está o Hemisfério Ocidental, com a América Latina tratada não como região soberana, mas como extensão territorial da própria segurança doméstica norte-americana.
Ao recolocar a velha lógica da Doutrina Monroe em chave contemporânea, a estratégia de Trump define que qualquer decisão de governo, de tribunal ou de parlamento que afete interesses estratégicos dos Estados Unidos poderá ser enquadrada como ameaça à estabilidade hemisférica, à segurança das cadeias de suprimentos ou à proteção de cidadãos e empresas norte-americanas. Isso significa, em termos concretos, que políticas de soberania energética, alianças com outros polos de poder, regulação de plataformas digitais, controle de dados sensíveis e defesa de empresas estatais passam a ser monitoradas e tratadas como potenciais alvos de processos, sanções e campanhas de deslegitimação articuladas a partir de Washington.
O resultado é a passagem de um modelo de intervenção baseado principalmente em operações clandestinas, pressão diplomática e golpes clássicos para uma fase em que a arma central é o uso seletivo e instrumentalizado da forma jurídica. Não se trata apenas de “judicializar” disputas políticas. Trata-se de reorganizar o próprio sistema internacional a partir da ideia de que os Estados Unidos possuem o direito de processar, punir, sancionar e constranger outros países sempre que estes se afastarem da rota definida como aceitável por sua estratégia de segurança. Em vez de tanques, petições. Em vez de marines, procuradores, reguladores e juízes devidamente alinhados.
Este artigo parte desse ponto de inflexão: a National Security Strategy de Trump como blueprint de uma indústria de lawfare em escala global, com foco prioritário na América Latina. A partir dela, é possível enxergar como a combinação entre leis extraterritoriais, ordens executivas, sanções financeiras, cooperação judicial assimétrica e guerra informacional constrói um dispositivo de ataque sistemático às soberanias nacionais. O objetivo aqui é expor, com precisão e sem eufemismos, a arquitetura dessa máquina e as consequências diretas que ela projeta para países que insistem em manter algum grau de autonomia estratégica, em especial no nosso continente.

Da Doutrina Monroe a Trump: quando o direito vira arma imperial

Quando a National Security Strategy resgata, em pleno 2025, a ideia de um “corolário Trump” para a Doutrina Monroe, ela não está apenas repetindo uma velha fórmula do século XIX. Está atualizando, em linguagem jurídica e tecnocrática, o princípio de que o Hemisfério Ocidental é uma zona de controle preferencial dos Estados Unidos. A diferença é que, agora, esse controle não se apresenta prioritariamente por meio de frotas, mas por meio de leis, sanções, regulações financeiras, decisões de tribunais e acordos assimétricos de “cooperação”. A forma jurídica torna-se a interface mais visível de uma lógica de poder que continua sendo a mesma: nenhuma soberania regional é plenamente legítima se contrariar os interesses estratégicos de Washington.
Ao longo do século XX, a Doutrina Monroe foi aplicada com golpes, intervenções militares diretas e operações clandestinas. No século XXI, o custo político e simbólico desse tipo de ação aumentou. A resposta foi sofisticar os instrumentos: em vez de admitir que derruba governos, o centro imperial passa a “aplicar normas”, “defender direitos”, “proteger investidores”, “combater a corrupção” ou “enfrentar o crime organizado transnacional”. A mudança de vocabulário não altera o núcleo do projeto, mas altera profundamente a aparência dos meios utilizados. O império, hoje, se apresenta como administrador de um suposto consenso jurídico-moral global, e não como força bruta que impõe sua vontade pela via direta.
A National Security Strategy de Trump cristaliza essa inflexão. Quando declara que o Hemisfério Ocidental deve ser “estável, bem governado e livre de incursão hostil”, o documento não está emitindo uma opinião abstrata. Ele está definindo critérios de aceitabilidade para governos, políticas econômicas, reformas legais e decisões judiciais em toda a região. Um país que busque diversificar alianças estratégicas, proteger seus recursos naturais, regular plataformas digitais ou fortalecer empresas estatais passa, do ponto de vista dessa doutrina, a flertar com a instabilidade, a má governança ou a “hostilidade”. Ao redefinir o que conta como ameaça, a estratégia abre espaço para reclassificar soberania como desvio.
É nesse ponto que o direito entra em cena não como um simples mecanismo interno de cada Estado, mas como vetor de intervenção externa. Leis de alcance extraterritorial, regimes de sanções, ordens executivas com efeito global e tratados assimétricos funcionam como extensões da vontade política norte-americana sobre territórios alheios. A Doutrina Monroe, que antes operava sobretudo via diplomacia e força armada, passa a operar também via tribunais, departamentos do Tesouro, agências reguladoras e cortes arbitrais internacionais. A gramática muda: não se fala mais em “punir um país rebelde”, e sim em “responsabilizar atores corruptos”, “conter ameaças híbridas” ou “responder a violações de normas internacionais”.
O salto qualitativo da National Security Strategy está justamente em consolidar esse arranjo como política oficial e planejada. Lawfare deixa de ser um conjunto de expedientes oportunistas para se tornar método, eixo estruturante de uma visão de mundo. A América Latina não é apenas um cenário entre outros; é o primeiro campo de aplicação de uma doutrina que declara, sem rodeios, que a segurança dos Estados Unidos autoriza o uso sistemático de instrumentos jurídicos, econômicos e informacionais para condicionar o raio de ação das demais soberanias. O que antes se fazia de forma fragmentada passa a ser organizado como arquitetura coerente. E, a partir daqui, qualquer país que pretenda exercer autonomia real na região passa a dialogar, goste ou não, com essa matriz de coerção.
O conceito de lawfare como forma contemporânea de coerção imperial

O termo lawfare costuma ser tratado como se fosse apenas o mau uso do sistema de justiça para fins políticos. Essa definição é insuficiente. O que a National Security Strategy revela — pela primeira vez de forma explícita em um documento norte-americano de alto nível — é que o lawfare hoje funciona como um método estruturado de poder, uma tecnologia política destinada a disciplinar Estados, neutralizar projetos soberanos e reordenar economias periféricas segundo as necessidades estratégicas dos Estados Unidos. Não é o desvio de uma regra: é a própria regra convertida em instrumento de dominação.
O que caracteriza essa nova etapa é a sofisticação do mecanismo. O direito deixa de ser apenas um espaço institucional interno e passa a operar como vetor de política externa. Leis, sanções, normativas financeiras, acordos de compliance, tratados de cooperação judicial e decisões administrativas ganham alcance extraterritorial e passam a funcionar como extensões diretas da estratégia de segurança nacional. Em vez de tanques, trata-se de papéis timbrados; em vez de invasões, de designações e processos; em vez de fardas, de pareceres e delações. É a coerção vestida de legalidade.
Essa lógica transforma qualquer exercício de soberania — controlar recursos naturais, proteger empresas estatais, regular plataformas digitais, estabelecer alianças estratégicas com outros centros de poder — em potencial delito. E aqui está o salto crucial: não é necessário que o país tenha cometido uma ilegalidade real. Basta que uma decisão legítima contrarie interesses estratégicos dos Estados Unidos para que ela possa ser reconstruída como ameaça, risco, irregularidade, corrupção ou violação de normas globais. O lawfare opera justamente nesse ponto de inflexão: a fronteira entre legalidade e ilegalidade é manipulada de acordo com a conveniência geopolítica.
A National Security Strategy oferece o arcabouço para transformar esse método em política de Estado. Ao redefinir a estabilidade hemisférica como requisito da segurança norte-americana, o documento cria a justificativa para enquadrar, investigar, sancionar e isolar governos que não se alinham. O que antes eram ações fragmentadas — casos isolados de cooperação judicial, sanções personalizadas, investigações unilaterais — agora passa a formar uma arquitetura integrada. O lawfare deixa de ser exceção e se torna engrenagem permanente de um sistema de coerção adaptado ao século XXI: menos tanques, mais tribunais; menos embaixadas conspirando, mais departamentos do Tesouro e de Justiça moldando o destino de soberanias alheias.
Este é o ponto de virada: o lawfare não é mais apenas instrumento tático. É o eixo de uma estratégia imperial que opera com a aparência de neutralidade jurídica para obter efeitos que antes exigiam custo político elevado. A máquina descrita pela National Security Strategy funciona justamente porque substitui a força bruta por um regime de legalidade seletiva que, revestido de legitimidade institucional, permite intervir sem parecer intervenção. É a guerra travada nos registros de contabilidade, nos acordos de cooperação, nas delações negociadas e nas listas de sanções — e não nos campos de batalha convencionais.
A National Security Strategy como blueprint da indústria de lawfare

A National Security Strategy apresentada por Trump não disfarça suas intenções: ela organiza, pela primeira vez de maneira explícita, um sistema integrado de coerção jurídica pensado para funcionar como eixo central da política de poder norte-americana no século XXI. É o manual operativo de uma indústria de lawfare — uma máquina que transforma leis, normas, tratados, sanções e instituições de justiça em instrumentos diretos de intervenção sobre outros Estados. O documento não sugere essa possibilidade: ele a afirma, a estrutura e a legitima.
O trecho dedicado ao Hemisfério Ocidental é a chave para compreender o salto histórico. Nele, a América Latina é definida como zona vital da segurança nacional dos Estados Unidos, devendo permanecer politicamente estável, economicamente alinhada e estrategicamente previsível. Qualquer movimento que altere esse equilíbrio — diversificação de parcerias internacionais, proteção de recursos naturais, regulação de plataformas digitais, fortalecimento de empresas estatais ou aproximação com polos alternativos de poder — passa, no contexto dessa doutrina, a ser potencialmente tratado como ameaça. Ao redesenhar o mapa da ameaça, a estratégia cria a moldura jurídica que permite enquadrar decisões soberanas como risco geopolítico.
O documento avança ao especificar o método. Ele declara que os Estados Unidos mobilizarão mecanismos de “responsabilização internacional”, “promoção da boa governança”, “proteção de cadeias de suprimento”, “combate ao crime transnacional” e “defesa de cidadãos e empresas americanas” como pilares de sua atuação regional. Em linguagem técnica, isso significa uma operação coordenada de uso de sanções financeiras, processos extraterritoriais, ordens executivas de alcance global, acordos de cooperação judicial e interoperabilidade entre órgãos reguladores e sistemas de inteligência. Nada disso é acidental: é um sistema pensado para funcionar como arcabouço permanente de vigilância e punição.
Ao se observar a estrutura interna do documento, o desenho fica ainda mais claro. Cada área de política externa — energia, migração, tecnologia, comércio, segurança digital — é acompanhada de instrumentos jurídicos já existentes e de propostas de expansão legal futura. O que o texto faz é unificar tudo isso sob uma mesma racionalidade: a de que proteger os interesses dos Estados Unidos implica alterar, condicionar ou bloquear as escolhas políticas de outros países sempre que necessário. Isso transforma mecanismos originalmente concebidos como exceções em práticas permanentes de governo.
A National Security Strategy funciona, portanto, como o blueprint dessa indústria porque liga todas as peças: define inimigos, estabelece metas, organiza instrumentos, determina justificativas e projeta a atuação combinada de agências, tribunais, departamentos e empresas. O lawfare deixa de ser o resultado da soma de iniciativas fragmentadas e se torna política declarada de Estado — e isso, na prática, inaugura um regime em que soberanias nacionais podem ser alvo de processos, sanções e narrativas acusatórias sem que haja necessidade de intervenção militar. É a institucionalização da coerção por vias jurídicas, legitimada no coração da estratégia geopolítica norte-americana.
Arquitetura da máquina: a engrenagem multinível do lawfare

A National Security Strategy não descreve apenas objetivos; ela desenha a máquina que irá executá-los. O documento revela um arranjo que funciona como uma arquitetura de poder em camadas, cada uma operando com funções específicas, mas todas movidas por uma mesma lógica: utilizar o direito, a regulação financeira, os mecanismos de segurança e a guerra informacional como instrumentos coordenados de coerção. É essa estrutura, e não apenas o discurso, que transforma o lawfare em indústria — organizada, escalável e capaz de operar simultaneamente em múltiplos países.
No topo, está a camada estratégica, onde se define a doutrina que orienta todo o sistema. A Casa Branca, o Conselho de Segurança Nacional e os comandos militares responsáveis pela região produzem a interpretação oficial do que constitui ameaça, risco ou instabilidade. É aqui que se decide que uma política industrial latino-americana, uma parceria energética com outro bloco geopolítico ou uma regulação de dados pode ser tratada como questão de segurança nacional dos Estados Unidos. O papel dessa camada é fixar o enquadramento: o que para um país soberano é política pública, para Washington pode se tornar justificativa para intervenção jurídica.
Abaixo dela, opera a camada jurídica, que dá forma institucional ao enquadramento. Leis extraterritoriais, ordens executivas, sanções econômicas, regimes de compliance e acordos de cooperação judicial compõem o repertório que permite acionar a máquina com aparência de legalidade. O documento deixa claro que essas ferramentas não serão usadas de modo esporádico, mas como parte de uma política integrada. Cada dispositivo jurídico funciona como engrenagem capaz de ser ativada rapidamente, ajustada ao caso concreto e acoplada às necessidades estratégicas do momento.
A camada operacional reúne as agências que ativam e executam o sistema: Departamento de Justiça, Tesouro, FBI, DEA, CIA, DHS e comandos militares regionais. Elas conduzem investigações, produzem relatórios, classificam organizações, solicitam cooperação policial, congelam ativos, negociam delações, desenham listas de sanções e orientam empresas americanas e globais. É nessa camada que o lawfare ganha escala industrial — com procedimentos padronizados, fluxos de trabalho replicáveis e capacidade de atuação simultânea em vários países sem necessidade de aprovação política caso a caso.
Por fim, a camada local funciona como extensão do sistema dentro dos países alvo. Ela integra segmentos do Judiciário, Ministérios Públicos, agências reguladoras, polícias, think tanks, ONGs e veículos de mídia alinhados à lógica da estratégia. Não se trata necessariamente de agentes conscientes de seu papel geopolítico, mas de instituições cujo funcionamento já está parcialmente moldado por fluxos de formação, financiamento externo, intercâmbio técnico e dependência de padrões de cooperação com os Estados Unidos. Essa camada garante que o lawfare não pareça imposição externa, mas sim “aplicação normal da lei”.
Quando essas quatro camadas atuam em conjunto, o efeito é devastador. A intervenção deixa de ter rosto e passa a ser percebida como consequência natural de normas, relatórios, decisões judiciais e pressões institucionais. A coerção se torna difusa, tecnicamente apresentada e politicamente disfarçada. O império deixa de operar pela excepcionalidade e passa a operar pela rotina. A National Security Strategy descreve exatamente esse sistema — e ao fazer isso, revela a forma contemporânea pela qual o poder se inscreve nas instituições jurídicas e administrativas de Estados soberanos.

O arsenal jurídico imperial: sanções, extraterritorialidade e a criminalização da soberania
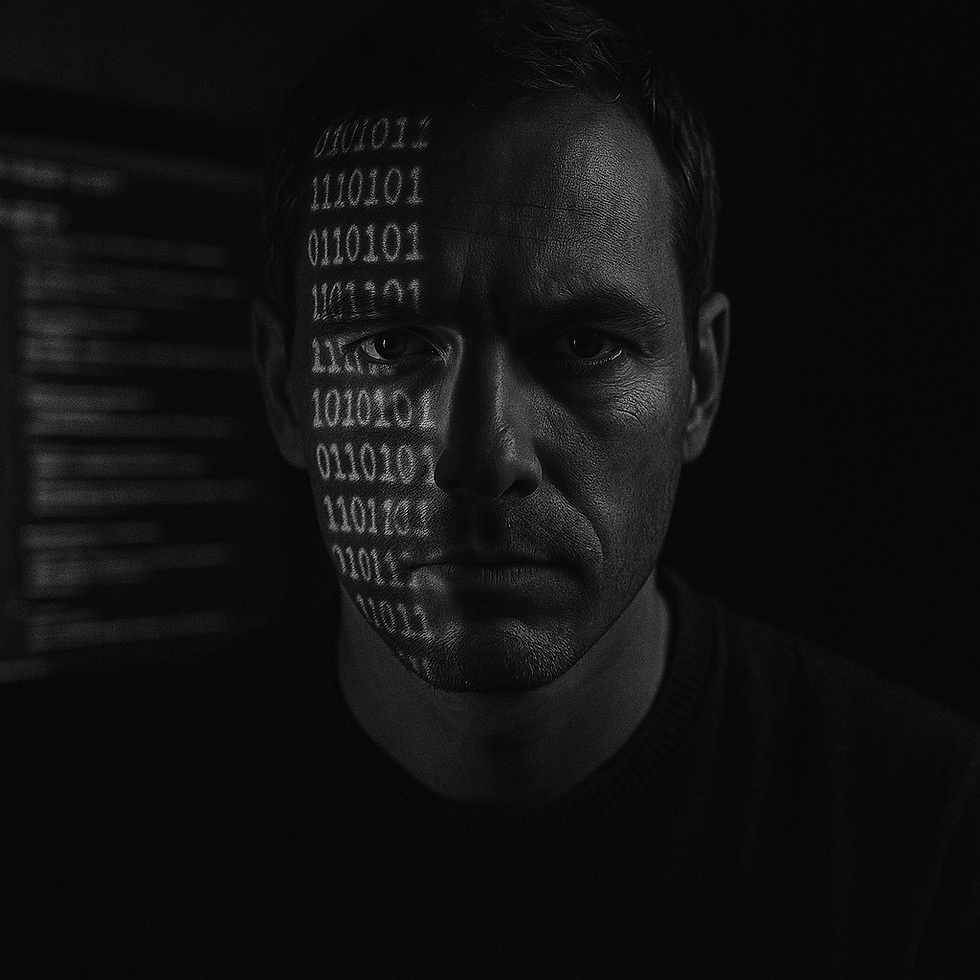
A National Security Strategy não apenas aponta direções — ela ativa um conjunto de ferramentas jurídicas já existentes, ampliando seu papel de forma coordenada e estratégica. Essas ferramentas constituem o que pode ser chamado, sem qualquer exagero, de arsenal jurídico imperial: um conjunto de instrumentos concebidos para ultrapassar fronteiras, impor disciplina e reconfigurar decisões internas de Estados soberanos sob o rótulo de “cumprimento de normas”. É por meio desse arsenal que o lawfare deixa de ser expediente ocasional e passa a atuar como mecanismo cotidiano de coerção.
O primeiro desses instrumentos é a extraterritorialidade das leis norte-americanas. Ela permite que departamentos e agências dos Estados Unidos processem empresas, autoridades e instituições de outros países por condutas que não violam leis internas, mas que são interpretadas como lesivas aos interesses americanos. Leis financeiras, anticorrupção e antiterrorismo — originalmente justificadas como mecanismos de proteção interna — tornaram-se, na prática, ferramentas de intervenção em processos econômicos e políticos alheios. Em seu desenho atual, qualquer operação estratégica realizada por um país latino-americano pode ser requalificada como violação de normas internacionais definidas unilateralmente.
A segunda ferramenta é o regime de sanções. A National Security Strategy reforça seu papel central ao tratá-lo como instrumento de política de segurança, não apenas de política externa. Sanções deixam de ser resposta excepcional e passam a ser mecanismo de administração de conflitos, ajustado para interferir em setores específicos da economia, em lideranças políticas, em cadeias de suprimento ou em decisões regulatórias. A lógica é simples: ao transformar um desacordo político ou econômico em alegada violação jurídica, as sanções passam a se justificar automaticamente. E, ao produzirem efeitos diretos sobre mercados, bancos e empresas globais, funcionam como meio de pressionar governos sem a necessidade de intervenção militar.
O terceiro instrumento é o conjunto de ordens executivas que ampliam a capacidade do governo norte-americano de enquadrar outros países a partir de categorias de ameaça criadas de forma unilateral. Ordens que classificam cartéis como organizações terroristas, que autorizam represálias por supostas “detenções indevidas” de cidadãos americanos ou que ampliam o alcance de investigações financeiras funcionam como atalhos legais. Elas permitem agir rapidamente, sem debate legislativo, e com abrangência global. Essa combinação dá ao Executivo norte-americano poder para transformar circunstâncias políticas internas de outros países em questões de segurança nacional.
O quarto elemento é a rede internacional de compliance, auditoria e arbitragem. Empresas multinacionais, fundos financeiros e escritórios globais de advocacia operam como multiplicadores desse arsenal jurídico. Ameaças de sanções, investigações extraterritoriais ou restrições de mercado criam incentivos para que essas instituições pressionem governos a se alinhar com padrões regulatórios definidos em Washington. Assim, o lawfare assume forma indireta: não é preciso acionar um tribunal americano para produzir efeitos sobre políticas industriais, sistemas tributários ou marcos regulatórios de países soberanos. Basta o risco calculado.
A National Security Strategy organiza todos esses elementos como parte de um mesmo sistema. Ela afirma, na prática, que a estabilidade hemisférica depende da capacidade dos Estados Unidos de identificar e punir desvios. O resultado é claro: decisões legítimas de governos latino-americanos — sobretudo aquelas que tocam recursos estratégicos, alianças internacionais, infraestrutura crítica ou soberania informacional — passam a transitar sob a ameaça constante de serem reclassificadas como ilícitos internacionais. Nesse arranjo, a soberania deixa de ser princípio basilar e se converte em variável condicional: válida apenas enquanto não contrariar os interesses definidos pela estratégia norte-americana.
Big tech, guerra informacional e a legitimação simbólica do lawfare

Nenhuma máquina de coerção jurídica funciona plenamente sem um ecossistema de legitimação simbólica que a sustente. A National Security Strategy fornece o arcabouço doutrinário e operacional, mas é o sistema informacional global — dominado por big techs, plataformas de dados e redes de comunicação transnacionais — que transforma essa arquitetura em senso comum. É nesse terreno que o lawfare adquire sua face mais eficaz: a capacidade de se apresentar como neutralidade técnica enquanto executa objetivos políticos de alta densidade estratégica.
A estratégia deixa claro que as grandes plataformas digitais são consideradas infraestrutura crítica da segurança norte-americana. Isso não é retórica: significa que empresas privadas, instaladas em todos os países e reguladas de forma assimétrica, passam a atuar como extensões informacionais do Estado. Elas controlam fluxos de visibilidade, moderam conteúdos, organizam a circulação de narrativas e, sobretudo, moldam percepções públicas sobre legitimidade institucional. Em uma disputa geopolítica, esse poder se converte em vantagem estratégica: deslegitimar governos, amplificar crises, fabricar consensos punitivos e isolar lideranças políticas passa a depender de algoritmos, não apenas de editoriais.
Esse ambiente é decisivo para o funcionamento do lawfare. Processos judiciais, investigações extraterritoriais, sanções personalizadas e decisões administrativas não são apenas atos técnicos; eles exigem a sustentação de narrativas que os tornem aceitáveis para audiências domésticas e internacionais. A máquina informacional cumpre esse papel ao enquadrar intervenções como defesa da democracia, combate à corrupção, proteção à liberdade de expressão ou enfrentamento ao crime organizado. O que é, na essência, uma ação de poder, é recodificado como ação de cuidado.
As plataformas digitais também operam como vetores de pressão indireta. Governos que tentam regular seus algoritmos, proteger dados sensíveis ou limitar o poder de moderação privada são imediatamente enquadrados como ameaças à liberdade e à ordem constitucional. Esse enquadramento, amplificado por organismos de certificação, ONGs internacionais e veículos de imprensa transnacional, cria o ambiente perfeito para que sanções e processos extraterritoriais pareçam respostas naturais. A coerção jurídica se apoia, assim, em uma coerção simbólica que prepara o terreno político para sua aceitação.
O encontro entre a National Security Strategy e o ecossistema informacional global produz um efeito estrutural: o lawfare deixa de se restringir a tribunais e passa a habitar o espaço público como narrativa permanente. A distinção entre fato e acusação, entre julgamento e propaganda, entre investigação e campanha política se dissolve. A sentença começa antes da petição. A opinião pública é moldada antes que os processos se iniciem. A legitimidade é destruída antes que qualquer prova seja apresentada. E, ao final, a intervenção jurídica aparece não como imposição externa, mas como resposta inevitável a um clima fabricado.
É essa simbiose que torna a indústria de lawfare tão poderosa: ela combina o alcance jurídico do Estado norte-americano com a capacidade das plataformas digitais de moldar percepções em escala planetária. Uma produz a punição; a outra produz o consenso. Quando atuam juntas, a soberania nacional se torna vulnerável não apenas às decisões de tribunais estrangeiros, mas também aos algoritmos que definem o que é verdade, o que é crise e o que é crime.
América Latina como frente de teste e zona primária de expansão do lawfare

Na National Security Strategy, a América Latina não aparece como vizinhança, nem como parceira, nem como bloco geopolítico relevante em si. Ela aparece como fronteira estratégica interna, uma extensão direta da segurança doméstica dos Estados Unidos. Essa é a chave para compreender por que a região se torna o primeiro grande laboratório dessa indústria de lawfare: aqui, o imperialismo pode operar com menor resistência estrutural, maior capilaridade institucional e uma longa tradição de intervenções legitimadas por narrativas civilizatórias, morais ou securitárias.
O documento transforma problemas estruturais da região — violência urbana, migração, economias informais, disputas políticas, vulnerabilidades fiscais — em justificativas permanentes para intervenção jurídica e regulatória. Quando a estratégia afirma que a estabilidade hemisférica exige combater “corrupção sistêmica”, “má governança”, “crime transnacional”, “subversão informacional” e “penetração de potências rivais”, ela está, em linguagem técnica, convertendo qualquer tentativa de autonomia política ou econômica dos países latino-americanos em problema de segurança nacional dos Estados Unidos. E isso abre uma via direta para o uso instrumental do direito.
Essa lógica produz um efeito previsível: políticas públicas legítimas — de soberania energética, de integração regional, de cooperação com Ásia, África ou mundo árabe, de regulação digital, de proteção a dados ou de fortalecimento de empresas estatais — passam a ser observadas como sinais de risco. A região é tratada como território onde disputas geopolíticas devem ser resolvidas preventivamente, antes que alternativas estratégicas ganhem tração. O lawfare, nesse contexto, aparece como método preferencial porque permite intervir sem assumir a intervenção: a punição vem disfarçada de legalidade, e a pressão, de “cumprimento de normas”.
A América Latina também oferece condições institucionais favoráveis ao funcionamento desse dispositivo. Sistemas judiciais historicamente permeáveis a pressões externas, programas de cooperação assimétricos com agências norte-americanas, elites políticas dependentes de legitimação internacional e ambientes midiáticos fragmentados criam o ecossistema perfeito para a infiltração de narrativas punitivas. Basta acoplar sanções, relatórios, rankings, pareceres técnicos e delações para produzir crises políticas internas que parecem orgânicas, mas que obedecem a uma lógica de comando externa.
A National Security Strategy incorpora explicitamente essa dimensão regional ao conectar lawfare, guerra informacional, combate a cartéis, proteção de cadeias de suprimento e segurança digital. Não são áreas isoladas: são eixos de uma mesma doutrina para administrar a instabilidade latino-americana de acordo com interesses estratégicos dos Estados Unidos. A região deixa de ser apenas alvo contingente e passa a ser espaço de aplicação padrão, onde se testam formatos de sanção, modelos de enquadramento jurídico, táticas de deslegitimação institucional e protocolos de “cooperação” que, na prática, colonizam a autonomia decisória dos Estados.
Assim, a América Latina emerge no documento como o cenário onde o lawfare não é apenas possível, mas necessário. E é por isso que a estratégia a designa, com todas as letras — e com todos os instrumentos jurídicos à disposição — como a primeira fronteira da nova forma de poder norte-americano: uma forma que dispensa tanques, mas exige tribunais disciplinados, narrativas bem distribuídas e fronteiras políticas suficientemente debilitadas para que a coerção jurídica pareça natural.
Brasil: do laboratório de guerra híbrida ao alvo preferencial do lawfare imperial

Nenhum país aparece de forma tão evidente, ainda que não nomeada, no desenho estratégico da National Security Strategy quanto o Brasil. O documento trata a América Latina como zona interna de segurança, mas a lógica que organiza seus instrumentos aponta repetidamente para padrões que já foram aplicados — e aperfeiçoados — aqui. O Brasil não é apenas alvo potencial; é o caso paradigmático, o protótipo sobre o qual a nova arquitetura de lawfare foi construída e testada durante duas décadas. E, agora, se converte no principal campo de aplicação da doutrina.
A razão é estrutural. O Brasil reúne atributos que o tornam estratégico: escala territorial, população, recursos energéticos e minerais, agricultura, matriz industrial, base tecnológica emergente, papel geopolítico nos BRICS e uma história recente marcada por disputas intensas em torno de soberania, integração regional e controle de infraestruturas críticas. É exatamente esse conjunto que a National Security Strategy busca enquadrar. Qualquer movimento autônomo do Brasil — em energia, tecnologia, dados, política externa ou regulação de plataformas — produz efeitos sistêmicos que ultrapassam suas fronteiras. Por isso, o país aparece implicitamente como o principal ponto de inflexão da doutrina.
O documento opera sobre um terreno já preparado. Desde meados dos anos 2000, o Brasil foi submetido a ciclos sucessivos de guerra cultural, sabotagem política, destruição de reputações, judicialização seletiva e campanhas de desestabilização econômica — experiências que se articulam perfeitamente com a lógica atual do lawfare. O tratamento dado a políticas industriais, a empresas estatais de energia, a programas de inclusão social e a alianças internacionais não foi acidental. Ele inaugurou o modelo de operar juridicamente contra projetos nacionais por meio de cooperação assimétrica com agências estrangeiras, vazamentos controlados, delações negociadas e enquadramentos criminalizantes de políticas públicas.
O que a National Security Strategy faz é incorporar esse caso brasileiro como matriz. O trecho sobre “responsabilização”, “boa governança”, “segurança de cadeias de suprimento” e “ameaças híbridas” reproduz exatamente os tipos de justificativa que foram mobilizados no Brasil nos últimos vinte anos para enfraquecer setores estratégicos, deslegitimar lideranças políticas e comprometer a soberania energética e tecnológica. A diferença é que, agora, essas justificativas deixam de ser instrumentos improvisados e passam a ser doutrina, legitimada por uma estratégia formal do governo norte-americano.
No cenário atual, o Brasil se torna alvo preferencial por fatores concretos. A disputa por energia, minerais críticos e infraestrutura digital coloca o país no centro da competição entre grandes potências. A aproximação com a China e o fortalecimento dos BRICS ampliam essa sensibilidade estratégica. A regulação do ambiente digital, em defesa da democracia e contra a desinformação, afeta diretamente interesses de big techs alinhadas aos vetores da política externa norte-americana. E a recuperação da capacidade estatal em setores estratégicos como petróleo, gás, indústria naval, defesa, dados e inteligência territorial contraria a lógica de dependência que a National Security Strategy busca preservar.
Nesse contexto, qualquer iniciativa soberana brasileira corre o risco de ser reconstruída — por instrumentos jurídicos, narrativos e regulatórios — como ameaça à estabilidade hemisférica. Investigações internas podem ser reinterpretadas como perseguição política; políticas industriais, como corrupção; acordos energéticos, como risco de captura estrangeira; marco regulatório de plataformas, como censura; proteção de dados, como falta de transparência. A máquina está pronta para produzir enquadramentos sob demanda.
O Brasil está, portanto, no olho do furacão não por fragilidade, mas por potencial. Porque tem massa crítica suficiente para alterar o tabuleiro hemisférico. Porque seus recursos estruturam cadeias globais de valor. Porque sua democracia, quando fortalecida, abre caminhos não alinhados à lógica imperial. E porque sua soberania — energética, tecnológica, informacional e diplomática — representa exatamente o tipo de autonomia que a National Security Strategy se propõe a neutralizar.
O que está em jogo para magistrados, juristas, militares e formuladores de política

A National Security Strategy coloca diante das instituições brasileiras — especialmente do Judiciário, das Forças Armadas, do corpo diplomático, das agências reguladoras e do núcleo estratégico do Estado — um desafio que não pode ser lido como abstrato ou distante. A doutrina anunciada por Trump reorganiza o ambiente internacional de modo a transformar decisões nacionais legítimas em potenciais objetos de punição externa. Isso significa que magistrados, procuradores, diplomatas e autoridades de segurança passam a atuar sob um novo regime de risco geopolítico: qualquer ato institucional que toque áreas consideradas estratégicas pelos Estados Unidos — energia, tecnologia, regulação digital, recursos naturais, finanças, política externa — pode ser reinterpretado como desvio, abuso ou ameaça.
Para o Judiciário, o recado é direto. A máquina de lawfare descrita no documento opera justamente por meio de tribunais, relatórios, pareceres e mecanismos de cooperação assimétrica. Isso coloca os magistrados brasileiros diante de um dilema histórico: proteger a autonomia das decisões judiciais frente a pressões externas ou permitir que o sistema de justiça se torne canal de replicação de interesses geopolíticos alheios. A estratégia norte-americana depende, estruturalmente, da existência de sistemas judiciais que respondam positivamente a narrativas de “boa governança”, “anticorrupção” ou “proteção à democracia” — categorias que funcionam como justificativas amplas o suficiente para enquadrar qualquer política soberana. A tarefa do Judiciário é manter clareza sobre isso: ser independente significa também resistir à captura transnacional.
Para diplomatas e formuladores de política externa, o cenário é igualmente sensível. A estratégia americana redefine o que conta como comportamento aceitável de Estados soberanos e tenta impor, por via jurídica, limites ao escopo de alianças estratégicas, acordos tecnológicos, políticas industriais e iniciativas de integração regional. Não se trata de divergências diplomáticas comuns, mas de um projeto que busca condicionar a política externa de países latino-americanos por meio de processos, sanções e pressões regulatórias. A resposta exige firmeza institucional, capacidade de articulação sul-sul e fortalecimento de instrumentos multilaterais que limitem a unilateralidade jurídica.
Para as Forças Armadas, o ponto central é compreender que a doutrina de segurança norte-americana passa a operar também no plano legal, não apenas militar. A expansão do conceito de ameaça — que agora inclui desde decisões econômicas até regulações de plataformas digitais — cria um ambiente em que operações jurídicas, financeiras e informacionais podem ter impacto direto sobre a segurança interna e sobre a estabilidade institucional dos países da região. Isso exige leitura estratégica da conjuntura e coordenação com órgãos civis para proteger infraestruturas críticas, inclusive as ligadas a dados, comunicação, energia e soberania informacional.
Por fim, para reguladores, gestores públicos e planejadores econômicos, a National Security Strategy envia um aviso claro: a autonomia regulatória latino-americana é vista como risco, sobretudo quando interfere em fluxos de capital, plataformas digitais, cadeias de suprimento e setores estratégicos. Intervenções legítimas podem gerar retaliações jurídicas ou financeiras. A resposta necessária é reforçar capacidades técnicas, blindar políticas públicas de pressões externas e construir marcos regulatórios que resistam a tentativas de deslegitimação por organismos e empresas subordinadas a interesses geopolíticos alheios.
O que está em jogo, portanto, não é um debate ideológico ou uma divergência diplomática. É a capacidade institucional do Brasil de continuar decidindo seu próprio destino diante de uma estratégia que busca, de maneira coordenada, subordinar políticas nacionais à lógica de segurança norte-americana. A defesa da soberania passa, agora, por uma compreensão fina de como a forma jurídica foi transformada em instrumento de poder, e de como Estados capazes precisam adaptar suas instituições para não serem absorvidos por essa nova forma de pressão imperial.
Conclusão: o império jurídico e o futuro da soberania

A National Security Strategy apresentada esta semana não inaugura apenas uma etapa distinta da política externa dos Estados Unidos. Ela formaliza — com frieza burocrática e ambição estratégica — a consolidação de um império jurídico, um modelo de poder que dispensa fuzis porque dispõe de tribunais; que não precisa de tropas porque aciona sanções; que não exige invasões porque manipula narrativas; que não admite soberanias, apenas tolera administrações domésticas condicionais. A doutrina organiza, em linguagem neutra, a mais sofisticada máquina de intervenção já projetada contra países que insistem em decidir seus próprios caminhos.
Essa máquina não opera no campo da exceção. Ela age dentro da rotina institucional, infiltrando-se em processos judiciais, pareceres técnicos, relatórios de risco, regimes de compliance e protocolos de cooperação internacional. Seu alcance é potencialmente irrestrito: recursos naturais, infraestrutura digital, política externa, empresas estatais, sistemas de dados, regulações de plataformas, decisões de tribunais superiores — tudo pode ser reinterpretado como ameaça à estabilidade hemisférica e, portanto, como matéria de segurança nacional dos Estados Unidos. A fronteira entre o legítimo e o punível deixa de ser jurídica e passa a ser geopolítica.
Para a América Latina, e particularmente para o Brasil, a mensagem é inequívoca. A disputa por autonomia energética, tecnológica e informacional será travada não apenas em parlamentos e ministérios, mas também em cortes estrangeiras, gabinetes regulatórios, salas de arbitragem, investigações transnacionais e plataformas digitais que moldam a percepção pública. A erosão da soberania não ocorrerá por ocupação militar, mas por difusão controlada de legalidade e por intervenções que se apresentam como corriqueiras, técnicas, inevitáveis. A nova guerra não se parece com guerra; e é justamente por isso que é tão perigosa.
O desafio colocado aos Estados soberanos é compreender que a forma jurídica se tornou instrumento central da disputa internacional. Defender a democracia, proteger recursos estratégicos, regular plataformas, estabelecer alianças externas e afirmar políticas industriais são ações que agora exigem, simultaneamente, consciência institucional, densidade estratégica e capacidade de resistir à moldura acusatória produzida por órgãos, leis e narrativas externas. Não basta estar juridicamente correto; é preciso estar geopoliticamente preparado.
A National Security Strategy é o documento fundador desse novo paradigma. Ela define o terreno da disputa, arma seus instrumentos e anuncia suas intenções. Aceitar sua lógica sem resistência significa naturalizar a tutela; enfrentá-la exige reconstruir a soberania a partir de seus fundamentos — jurídicos, institucionais, informacionais e estratégicos.
A partir de agora, a questão decisiva para o Brasil e para a América Latina não é mais se haverá tentativa de intervenção. A questão é como cada país responderá à maior e mais organizada máquina de lawfare já concebida — e se suas instituições estarão à altura do desafio histórico de não apenas sobreviver ao impacto, mas de afirmar um futuro que não seja definido por tribunais estrangeiros, sanções unilaterais e narrativas produzidas para nos disciplinar.





Comentários