Depois do fim da arte: imaginação política na era da inteligência artificial
- 8 de set. de 2025
- 13 min de leitura
Introdução - O toque e a máquina

"O fascismo não opera pela razão, mas pelos afetos: provoca, distorce e tenta nos arrastar para sua lógica de ódio. Ele não vence quando prende, tortura ou mata, mas quando consegue nos transformar em algo parecido com ele. É por isso que nunca precisamos tanto da arte, da poesia e da ciência. Elas nos dão identidade, preservam nossa humanidade e nos diferenciam do autoritarismo. A verdadeira arte não cabe na lógica do lucro ou do entretenimento; como o amor, ela é inestimável, um salto no abismo pela criação. Resistir, então, é continuar sendo o que somos, respondendo com liberdade, criatividade e sensibilidade, sem deixar que nos reduzam à lama em que se divertem. Enquanto houver arte e ciência, o fascismo não terá vencido."
Essas palavras ditas pelo jurista Pedro Serrano, ressoou com uma força particular em 2020, um tempo de medo e isolamento. Ela me encontrou depois que uma pergunta hostil me feriu. Em meio ao luto coletivo da pandemia, após entrevistar Paulo Betti para o Diário do Centro do Mundo, alguém me escreveu para me chamar de alienada, questionando por que eu insistia em falar de arte diante de tanta dor. A pergunta não buscava resposta, era um ataque. Carregava a certeza de que nada que eu dissesse teria valor. Levei a provocação a Serrano, e sua resposta se tornou um manifesto que adotei como meu: o autoritarismo não vence quando prende ou mata, mas quando consegue nos transformar em algo parecido com ele. Por isso a arte, a poesia e a ciência são trincheiras. Elas nos dão identidade, preservam nossa humanidade. Resistir é continuar sendo quem somos, respondendo com liberdade e sensibilidade, sem deixar que nos reduzam à lama em que eles se divertem.
Na mesma época, um áudio viralizou entre amigos: exaltava a enxurrada de lives de artistas como uma salvação pelo seu efeito distrativo. Aquilo me irritava. Para mim, a arte na pandemia nunca trouxe paz; ao contrário, foi palco de conflitos, causa de amizades perdidas. Chocou me ver tantos colegas atravessarem aquele período sem que a tragédia deixasse vestígios em suas obras. Hoje, em Fortaleza, uma das cidades mais devastadas pelo vírus e pelo pandemônio político, a memória daquele tempo parece desvanecer, como se nada tivesse acontecido. O conflito entre a arte que distrai e a arte que confronta, entre a criação como mercadoria e a criação como trincheira, não é novo. Ele é o motor que move a história da forma e da função da própria arte.
Capítulo 1 - A arte como campo de batalha: breve história da forma e da função

A história da arte, quando desvinculada de suas condições materiais, torna se uma mera sucessão de gênios e estilos, uma narrativa idealista que flutua acima do mundo real. Uma análise materialista, contudo, ancora a produção artística na sua base econômica, revelando a não como uma esfera autônoma de pura estética, mas como um campo de batalha onde as visões de mundo das classes em conflito são forjadas, legitimadas e contestadas. As grandes transições na história da arte não são o resultado de epifanias isoladas, mas o reflexo de transformações profundas no modo de produção.
No feudalismo, a arte era uma ferramenta de poder. Financiada e controlada quase inteiramente pela Igreja, sua função era didática e ideológica. Numa sociedade majoritariamente analfabeta, as pinturas, esculturas e a arquitetura das catedrais serviam como uma bíblia em imagens, narrando histórias sagradas e reforçando os dogmas da fé para garantir a coesão social e a submissão à ordem vigente. A arquitetura gótica, com sua verticalidade impressionante e luminosidade interior, foi projetada para subjugar o espectador, direcionando sua alma para o alto e naturalizando a hierarquia feudal terrena como um reflexo imutável da vontade celestial. A beleza de uma catedral era inseparável de sua função política como instrumento de dominação de classe.
Com a transição para o capitalismo mercantil, o patrocínio da arte deslocou se da Igreja para a burguesia emergente. Famílias de comerciantes e banqueiros, como os Médici, financiaram uma geração de artistas com objetivos radicalmente diferentes. A função da arte deixou de ser a glorificação de Deus para se tornar a glorificação do patrono. Obras eram encomendadas para decorar palácios, celebrar feitos comerciais e projetar uma imagem de poder e prestígio. A obra de arte tornou se um meio crucial para a burguesia converter seu recém adquirido capital econômico em capital simbólico e legitimidade política. Foi o nascimento do individualismo burguês como valor cultural dominante, refletido tanto no retrato do mecenas quanto na crescente proeminência da figura do artista. É aqui que encontramos as raízes econômicas do conceito moderno de "gênio", que funcionava como uma "marca" que agregava valor à obra e, por consequência, ao status social de seu proprietário.
A Revolução Industrial completou a transição da arte para o estatuto de mercadoria. O antigo modelo de encomenda direta deu lugar a um mercado anônimo, onde os artistas produziam obras de forma especulativa para serem vendidas em galerias a uma clientela burguesa. Formalmente "livre" da servidão a um patrono, o artista adquiriu a mesma liberdade do proletário: a de vender sua força de trabalho, cristalizada na obra, sob pena de não sobreviver. Essa posição o colocou em antagonismo estrutural com a burguesia, sua principal base de consumidores, gerando a figura do artista moderno como um sujeito alienado. As vanguardas modernistas nasceram dessa tensão, com sua rebelião contra o gosto burguês e a própria lógica do mercado. Com a Pop Art de Andy Warhol, essa tensão colapsou. Ao transformar ícones do consumo de massa em "alta arte", o movimento deixou de combater a mercantilização para abraçá la ironicamente como seu próprio tema.
Finalmente, com a ascensão do neoliberalismo a partir dos anos 1980, a arte foi totalmente integrada aos circuitos do capital financeiro global, funcionando menos como objeto cultural e mais como um ativo para investimento e especulação. A própria noção de "criatividade" foi extraída do campo artístico e reapropriada pela ideologia neoliberal como uma competência individual essencial para a sobrevivência no mercado de trabalho precário. O artista contemporâneo foi compelido a gerir sua carreira como uma marca, um "empreendedor de si mesmo", alinhado à ideologia que nega a existência da sociedade em favor de um mercado de indivíduos atomizados.
Capítulo 2 - O beco sem saída do Eu: a arte na era pós-histórica

A fase neoliberal do capitalismo encontrou sua correspondência cultural perfeita na condição que filósofos como Arthur C. Danto descreveram como "pós histórica". Essa tese, muitas vezes mal interpretada, não decretava o fim da produção artística, mas sim o esgotamento de uma narrativa histórica unificadora e progressista que havia guiado a arte ocidental por séculos. O modernismo, com sua sucessão de vanguardas e manifestos que buscavam definir a "verdadeira" essência da arte, havia chegado a um beco sem saída. Com a Pop Art de Warhol, ficou claro que qualquer objeto, até mesmo uma caixa de sabão em pó, poderia ser transfigurado em arte, desde que inserido no contexto teórico e institucional do "Mundo da Arte". Se tudo podia ser arte, então não havia mais uma direção histórica a seguir. O resultado foi um pluralismo radical onde "tudo é permitido".
Esse aparente estado de liberdade total, no entanto, mascarou uma profunda submissão a uma nova lógica, não mais histórica, mas de mercado. O pluralismo da era pós histórica espelhou perfeitamente a condição ideológica do "Fim da História" proclamada por Francis Fukuyama após a queda do Muro de Berlim. Sem alternativas ideológicas ao capitalismo liberal, a cultura também se viu sem um "imperativo estilístico". A liberdade do artista não era mais a de lutar por uma nova visão de mundo, mas a de escolher um estilo em um vasto supermercado de formas passadas, prontas para serem citadas, remixadas e, principalmente, vendidas. O "vale tudo" pós moderno não era tanto uma celebração da diversidade, mas a indiferença do mercado, onde todas as "poéticas" e "identidades" são igualmente bem vindas, desde que possam ser transformadas em uma marca e um produto.
Nesse cenário, a produção artística dominante tornou se autorreferencial e centrada numa exaltação do ego. A obsessão com a identidade pessoal, a biografia e a subjetividade do artista emergiu como o sujeito ideal para a ordem neoliberal. A experiência pessoal, incluindo o trauma e as narrativas de opressão, foi convertida no principal "valor" da obra de arte. Este é um processo de autocomodificação: em vez de produzir uma crítica das estruturas sociais que geram sofrimento, o artista produz sua experiência de sofrimento como um produto de luxo para o mercado. O colecionador não compra uma intervenção política; compra a "autenticidade" da identidade do artista, transformando um potencial ato de resistência em um objeto de consumo. O artista, que acredita estar expressando seu "eu" mais singular, está, na verdade, desempenhando o ato supremo de conformidade com o imperativo neoliberal de se tornar uma marca pessoal, rentável e competitiva.
Capítulo 3 - A miséria da formação: fabricando artistas para o mercado

Essa condição de esvaziamento político não é um acidente, mas um projeto. Ela é ativamente cultivada e reproduzida pelo sistema de ensino superior em artes, um fenômeno que, embora tenha particularidades locais, é global em sua essência. A formação artística, tanto no Brasil quanto nos principais centros ocidentais, falha sistematicamente em fornecer aos estudantes as ferramentas críticas necessárias para compreender sua própria posição dentro das estruturas do capitalismo tardio. Em vez disso, ela produz artistas funcionalmente adaptados a um mercado globalizado e a uma prática politicamente neutralizada.
A análise das grades curriculares dos cursos de artes visuais revela uma hegemonia de abordagens idealistas, formalistas e pós estruturalistas que obscurecem as condições materiais da produção artística. É notável a ausência, nos núcleos fundamentais desses cursos, de disciplinas obrigatórias dedicadas à sociologia da arte, à economia da cultura ou a uma teoria política crítica. Conceitos como "poética e projeto artístico autoral" são centrais, promovendo uma visão da arte como um domínio de expressão individual e investigação formal, desvinculado de suas determinações econômicas e sociais. O sistema funciona como um eficaz mecanismo de "inoculação ideológica": os estudantes aprendem as técnicas de como fazer arte, mas não são ensinados a analisar como funciona o mundo da arte enquanto sistema de poder, legitimação e capital. Eles entram no mercado acreditando em uma meritocracia de "talento" e "originalidade", quando na realidade se deparam com um campo estruturado por capital econômico, social e cultural.
O resultado prático deste modelo acadêmico é a produção de um "exército de reserva" de trabalho criativo. As universidades formam um número de artistas muito superior àquele que o mercado de elite pode absorver, criando uma superabundância de mão de obra que pressiona para baixo o valor do trabalho artístico e força a maioria a uma existência precária, dependente de múltiplos empregos e de uma constante autoexploração. A forte ênfase dos cursos na formação de professores é um reconhecimento tácito de que a carreira de "artista puro" não é economicamente viável para a grande maioria, mas a ideologia central permanece ancorada no mito do artista autônomo e bem sucedido. A universidade, assim, perpetua uma contradição: vende uma ideologia de liberdade e expressão autoral enquanto prepara, na prática, seus estudantes para a realidade do trabalho precarizado, sem lhes fornecer as ferramentas para compreender e criticar esta mesma contradição.
Capítulo 4 - A máquina no ateliê: a inteligência artificial como novo meio de produção

Se a condição pós histórica foi a superestrutura cultural do mundo unipolar, sua validade é abalada por uma nova força material que reconfigura os meios de produção simbólica: a inteligência artificial generativa. A ascensão de modelos como DALL-E, Midjourney e GPT-4 não é apenas uma nova ferramenta; é uma ruptura qualitativa que altera as noções de autoria, trabalho e poder no campo artístico. Ela representa a formação de um novo e poderoso monopólio sobre os meios de produção cultural, operando através de uma forma inédita e parasitária de acumulação primitiva.
A tecnopolítica da criação foi radicalmente alterada. O poder deslocou se do criador individual para a infraestrutura corporativa. As ferramentas de criação, que antes eram relativamente acessíveis como um pincel ou uma câmera, são agora controladas por um punhado de corporações de tecnologia (Big Techs) que detêm os algoritmos, os dados e o poder computacional. O artista é reposicionado como um "operador de prompts", um curador de processos algorítmicos cuja agência é mediada por uma caixa preta opaca.
O mais crucial é o processo de "aprendizagem" desses modelos, que constitui uma nova forma de acumulação primitiva na esfera cultural. A "propriedade comum" digital, o vasto repositório de imagens, textos e sons criado coletivamente pela humanidade, está sendo cercada e privatizada por corporações através do web scraping. Elas utilizam essa matéria prima "gratuita", extraída sem consentimento, crédito ou compensação dos criadores originais, para treinar seus modelos. Em seguida, vendem o acesso a essas ferramentas, monetizando o trabalho não creditado de milhões de pessoas. O artista que utiliza uma dessas plataformas é, em essência, um arrendatário digital, pagando uma renda a um novo senhorio que detém a propriedade privada dos meios de produção simbólica.
Esteticamente, a IA generativa pode ser vista como a industrialização da alma pós moderna. Ela automatiza e operacionaliza o pastiche, a ironia e a recombinação de estilos, que eram as marcas da condição pós histórica. No entanto, essa apoteose é também um esgotamento. A capacidade dos sistemas de IA de aprender e se adaptar cria um mecanismo de controle e captura sem precedentes. Estilos críticos ou imagens subversivas podem ser rapidamente identificados, replicados e neutralizados pelo sistema, absorvidos não apenas pelo mercado, mas pela própria infraestrutura tecnológica, tornando se mais um conjunto de dados a ser estilisticamente monetizado. A crítica, antes uma postura, torna se agora um produto gerado por um clique.
Capítulo 5 - O futuro em disputa: ego algorítmico ou práxis coletiva?

A emergência da IA como nova força produtiva estabelece a contradição dialética que definirá o futuro da prática artística. Ela não inaugura um novo estilo, mas um novo campo de batalha. O seu potencial revolucionário não reside na capacidade de gerar novas formas estéticas, mas no potencial de permitir novas formas de organização do trabalho criativo. De um lado, a máquina pode aprofundar a lógica individualista e parasitária do capital; de outro, pode ser apropriada como uma ferramenta para uma práxis política coletiva e crítica.
A tese dessa dialética é o aprofundamento do ego algorítmico. Nessa trajetória, a IA se torna a ferramenta suprema para a expressão do "gênio operador", o artista celebrado por sua capacidade de "dominar" a máquina e extrair dela resultados esteticamente impressionantes. Essa figura reforça o culto da personalidade e da marca pessoal, alinhando se perfeitamente com a cultura do empreendedorismo de si mesmo. A arte torna se uma demonstração de virtuosismo técnico curatorial, divorciada de qualquer função social e plenamente integrada à lógica de mercado.
A antítese emerge como uma reação necessária a essa alienação, impulsionada pela convergência de crises globais, sejam elas geopolíticas, ecológicas ou sociais, que tornam a posição solipsista eticamente insustentável. Essa pressão material força um resgate da função política da arte. As práticas artísticas deixam de ser um nicho para se tornarem uma necessidade. O foco se desloca da expressão do eu para a capacidade da arte de construir comunidades e criticar estruturas de poder, sejam elas estatais ou corporativas tecnológicas. Nessa visão, a IA pode ser reapropriada por coletivos como uma ferramenta de autoanálise, gerando visualizações de processos sociais como gentrificação ou desigualdade ambiental. Pode, ainda, tornar se um laboratório para a imaginação política, simulando e visualizando futuros alternativos e sistemas pós capitalistas, tornando os mais tangíveis e, portanto, mais alcançáveis.
A síntese especulativa não reside na vitória de um polo sobre o outro, mas na apropriação crítica da máquina. As práticas artísticas mais significativas serão aquelas que operam nessa contradição, utilizando as ferramentas individualizadas e poderosas da IA para abordar problemas políticos coletivos. Trata se de transformar a "máquina do ego" em uma ferramenta para imaginar o "nós".
O gesto artístico mais radical na era da IA não é criar uma imagem com uma ferramenta corporativa, mas atacar a estrutura de propriedade centralizada dessas ferramentas.
Uma arte "pós pós arte" implicaria a construção de modelos de IA de código aberto, de propriedade coletiva, alimentados por dados curados de forma ética. O ato artístico fundamental seria a reapropriação dos meios de produção simbólica.
Conclusão - Para além do fim, a luta pela imaginação

A tese do "fim da arte" descreveu, com notável precisão, o esgotamento de uma narrativa específica: a da tradição artística burguesa ocidental, que se isolou progressivamente de suas funções sociais. O que se segue a ela, na era da IA e do capitalismo parasitário, não é um novo estilo ou um novo "ismo", mas um estado de contestação permanente. A convergência da disrupção tecnológica e da fragmentação geopolítica desmantelou qualquer possibilidade de um retorno a uma narrativa hegemônica.
O futuro da arte, portanto, não é um destino a ser descoberto, mas o próprio terreno da disputa. É um campo de batalha definido por três eixos de conflito.
O primeiro é tecnológico: uma luta pelo controle, pela ética e pela aplicação das ferramentas de criação, opondo a centralização do poder nas Big Techs a esforços de apropriação e descentralização.
O segundo é geopolítico: o confronto entre um cânone ocidental em reconfiguração, agora turbinado por algoritmos, e as narrativas plurais e decoloniais de um mundo multipolar. É a disputa sobre quem tem o poder de contar as histórias.
O terceiro, e mais crucial, é o eixo ideológico. É a luta dialética no seio da própria prática artística, entre um recuo para o individualismo exacerbado, alimentado pela lógica de mercado, e um reengajamento urgente com as responsabilidades políticas da arte face a um mundo em crise. A questão crucial não é se a IA será usada, mas por quem e para quê. Apenas através de um método que compreenda as determinações econômicas da nossa prática poderemos transformar a arte de um bem de luxo irrelevante em uma ferramenta vital para a análise crítica do presente e a construção coletiva de um futuro emancipado. A necessidade da arte, no final, reside em sua capacidade de nos ajudar a imaginar e a lutar por um mundo onde a criatividade humana seja finalmente libertada das correntes da mercadoria.
Referências bibliográficas
Teoria e História da Arte
ARANTES, Otília F. "Depois das vanguardas". Arte em Revista 7, 1983, pp. 05-24.
BELTING, Hans. O fim da história da arte. Tradução de Christopher S. Wood, São Paulo: Cosac Naify, 2006.
BOURDIEU, Pierre. Distinction: A social critique of the judgement of taste. Tradução de Richard Nice, Londres: Routledge & Kegan Paul, 1984.
DANTO, Arthur C. Após o fim da arte: A arte contemporânea e os limites da história. Tradução de Saulo Krieger, São Paulo: Edusp/Odysseus, 2006.
GULLAR, Ferreira. "Teoria do não objeto". Malasartes, Rio de Janeiro, n. 1, 1975, pp. 26-27.
HUYSSENS, Andreas. "Mapping the postmodern". New German Critique, n. 33, 1984, pp. 05-52.
KOSUTH, Joseph. "Arte depois da filosofia". Malasartes, Rio de Janeiro, n. 1, 1975, pp. 10-13.
LUCIE-SMITH, Edward. Movements in art since 1945, nova edição. Londres: Thames & Hudson, 2001.
SANTAELLA, Lucia. "O pluralismo pós-utópico da arte". ARS, Ano 7, N° 14, 2009, pp. 131-151.
VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: Niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
Materialismo, Crítica Cultural e Educação
ADORNO, Theodor W. Introdução à Sociologia da Música. São Paulo: Editora Unesp, 2011.
BARBOSA, Ana Mae. "A Abordagem Triangular no ensino das Artes como teoria e a pesquisa como experiência criadora". Repositório Institucional da UFPE, 2010.
BENJAMIN, Walter. "A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica". In: Os pensadores XLVIII. São Paulo: Abril Cultural, 1975.
JAMESON, Fredric. Pós-Modernismo: A lógica cultural do capitalismo tardio. Tradução de Maria Elisa Cevasco, São Paulo: Cultrix, 1996.
LUKÁCS, György. Estética: a peculiaridade do estético - Volume 1. São Paulo: Boitempo, 2016.
SAVIANI, Dermeval. "Arte e educação integral na concepção histórico-crítica: uma entrevista com Demerval Saviani". Linhas Críticas, vol. 27, 2021.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: Primeiras Aproximações. Campinas: Autores Associados, 2011.
Tecnologia, Geopolítica e Arte Contemporânea
BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
BOURRIAUD, Nicolas. Altermodern: Tate Triennial. Londres: Tate Publishing, 2009.
DAVIS, Ben. 9.5 Theses on Art and Class. Chicago: Haymarket Books, 2013.
ENWEZOR, Okwui. "The Postcolonial Constellation: Contemporary Art in a State of Permanent Transition". Research in African Literatures, vol. 34, no. 4, 2003, pp. 57-82.
FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio Nobel, 1995.
FUKUYAMA, Francis. "The End of History?". The National Interest, n. 16, 1989, pp. 3-18.
STEYERL, Hito. "A Sea of Data: Apophenia and Pattern (Mis-)Recognition". e-flux Journal, n. 72, 2016.
VÁZQUEZ, Rolando. "Decolonial Aesthesis: A Museum of Reciprocity and Relationality". Stedelijk Studies Journal, n. 8, 2019.
VERMEULEN, Timotheus; van den AKKER, Robin. "Notes on Metamodernism". Journal of Aesthetics & Culture, vol. 2, 2010.


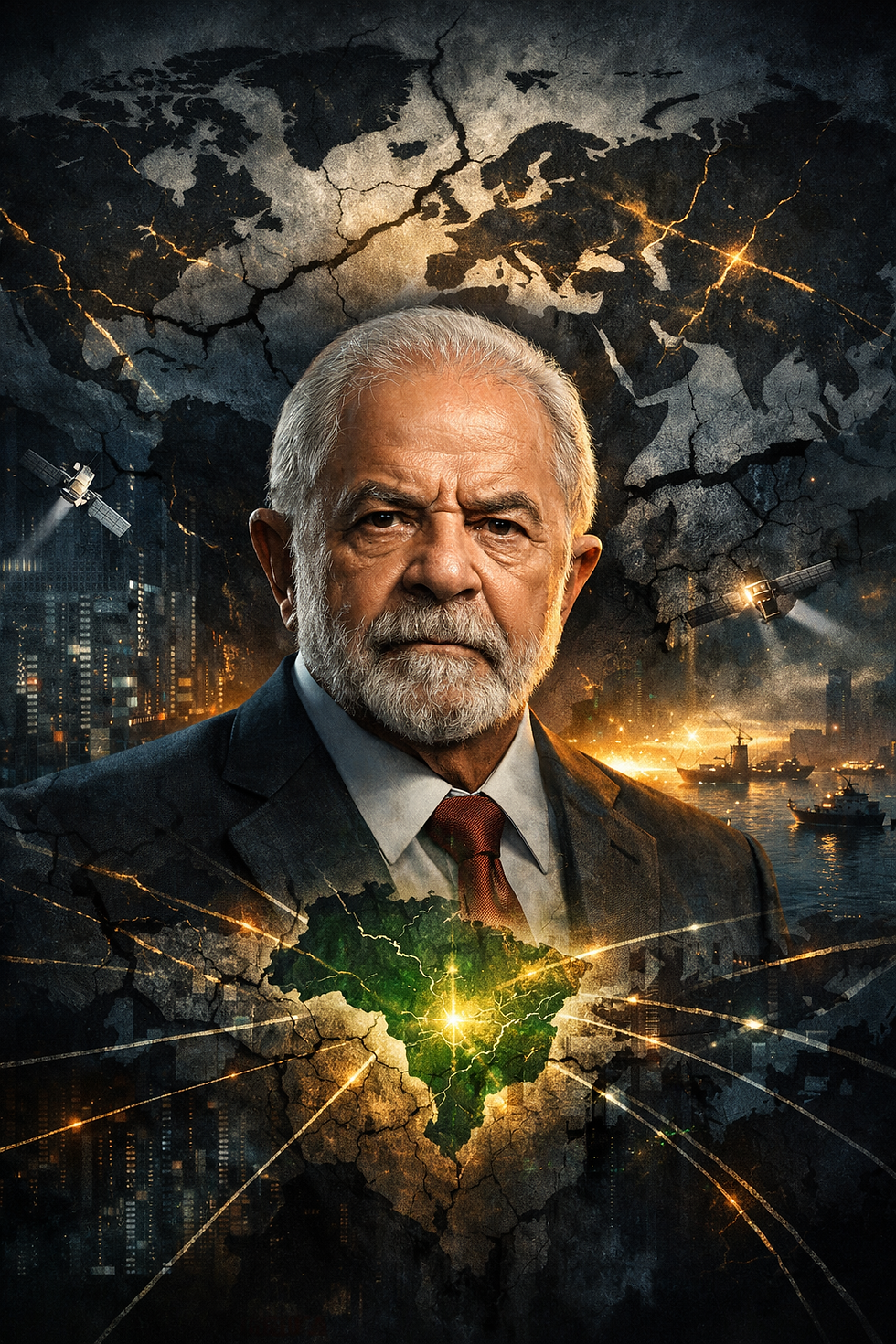

Maravilhoso