Operação 2026: Reviravolta
- Sara e Rey

- 15 de jul. de 2025
- 24 min de leitura
Quando o golpe parecia silencioso, o inimigo falou demais. O erro de timing abriu uma brecha rara: reação popular, virada simbólica e reorganização do campo democrático. A disputa está em chamas

Introdução: Quando o plano se revela
Se o roteiro delineado em Operação 2026: 7 passos para um golpe tivesse seguido seu curso sem perturbações, o ambiente político hoje seria outro. O Executivo estaria inteiramente acuado por uma aliança informal entre Congresso, sistema judicial e mídia corporativa. As decisões do governo seriam progressivamente esvaziadas por chantagens orçamentárias travestidas de negociação. O Supremo manteria uma postura de moderação ativa, aplicando freios ao Executivo sob a linguagem da institucionalidade. As big techs continuariam a operar o campo digital com filtros algorítmicos opacos, silenciando conteúdos soberanistas enquanto amplificam o discurso tecnocrático liberal sem freio. E a sociedade seguiria sob efeito de dispersão, cinismo e desmobilização, diante de um cenário que combina esgotamento da esperança com naturalização da tutela.
Esse era o desenho em marcha. O golpe não se apresentava como ruptura, mas como gerenciamento gradual da democracia por dentro de suas próprias engrenagens. O nome disso era normalidade. A operação se sustentava justamente por sua capacidade de não se apresentar como tal. Nenhuma força se levantava, porque não havia imagem visível do que estava sendo conduzido. Mas então o plano se revelou antes da hora.
Trump rompeu a liturgia diplomática e impôs tarifas unilaterais sobre exportações brasileiras, em gesto de retaliação ao processo contra Bolsonaro. Hugo Motta tentou condicionar a política fiscal do governo à liberação de emendas parlamentares, numa chantagem transmitida ao vivo. Eduardo Bolsonaro anunciou sua saída do país e a intenção de abandonar o mandato, como quem antecipa uma derrota judicial programada. Pela primeira vez, os operadores da engrenagem apareceram juntos, no mesmo plano simbólico. O que era uma arquitetura subterrânea passou a ser um teatro visível. Nome, rosto e função foram atribuídos aos protagonistas do que vinha sendo naturalizado como impasse democrático.
Esse excesso teve consequências. O governo reagiu. O STF reagiu. Partes do Congresso reagiram. A sociedade, até então cética ou apática, também reagiu. Houve um deslocamento narrativo, institucional e simbólico. E a partir desse deslocamento, um novo campo político começou a emergir, ainda fragmentado e instável, mas com vocação soberanista e capacidade de se comunicar com a maioria.
Este ensaio parte dessa virada. Aqui buscamos compreender o que a exposição prematura da engrenagem significou, como ela reorganizou o campo político e o que podemos esperar de um adversário que, ferido, voltará certamente com nova forma. A operação de 2026 não foi desmontada. Mas ao mostrar a cara cedo demais, ela pode ter cometido seu primeiro erro irreversível.
Capítulo 1: O que era oculto ganhou nome, rosto e função

No artigo Tnks Trump: o inimigo mostrou o rosto (8 de julho de 2025), apontamos que a extrema direita internacional perdeu o controle da própria encenação. O que antes era conduzido em linguagem cifrada, com operações disfarçadas de rotina institucional, se converteu em declaração pública. A fala de Donald Trump, em defesa direta de Jair Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal, coincidiu com a imposição unilateral de tarifas sobre exportações brasileiras e consolidou uma ofensiva que já não se limitava ao território nacional. O golpe, como vínhamos descrevendo, deixou de ser silencioso para se tornar visível. E o efeito imediato disso foi político.
A engrenagem que vinha operando por dentro das instituições se expôs. O gesto de Trump coincidiu, em solo brasileiro, com a chantagem explícita de Hugo Motta, que ameaçou travar a votação da LDO caso o governo não recuasse na política de isenção do IOF. A tentativa de submeter o Executivo à tutela do centrão não era apenas um episódio da disputa orçamentária. Era o segundo movimento de uma mesma coreografia, um ataque conjunto, sincronizado e multidimensional contra a soberania do país, com operadores internos e aliados externos agindo em sequência.
Como mostramos em Justiça sob ataque: o risco real da interferência dos EUA no caso Bolsonaro, a ação de Trump não pode ser reduzida a retórica eleitoral. Ela precisa ser compreendida como parte de uma doutrina ativa dos Estados Unidos na América Latina, cujo braço jurídico, já operado durante a Lava Jato, age por dentro de estruturas aparentemente legítimas, mas sempre a serviço da desestabilização de governos progressistas. Quando Trump se manifesta contra o STF, não está apenas defendendo um aliado, está reafirmando, em nome de um império em crise, que nenhuma soberania periférica será tolerada se romper com a lógica do subdesenvolvimento dirigido.
Ao mesmo tempo, a tentativa de Hugo Motta de chantagear o Planalto não pode ser lida como manobra individual. Como já escrevemos, trata-se de um modo de operar do sistema político brasileiro, onde uma elite parlamentar se sustenta pela captura de recursos públicos e pelo bloqueio sistemático de qualquer agenda que reoriente o orçamento em favor da maioria. A nova institucionalidade do pós-golpe de 2016 é essa, uma democracia esvaziada, na qual o voto legitima o Executivo, mas o controle efetivo da máquina segue nas mãos da casta legislativa.
Esse arranjo revela com nitidez aquilo que Nicos Poulantzas descreveu como o Estado dual. De um lado, mantém-se a aparência formal de uma democracia representativa, com eleições, separação de poderes e institucionalidade ativa. De outro, estruturas paralelas de poder operam por dentro e por fora do aparelho de Estado, articulando interesses de classe e disciplinando o Executivo sempre que este ameaça romper com a lógica do subdesenvolvimento dirigido. A combinação entre big techs, sistema de justiça e mídia corporativa funciona como uma engrenagem autoritária informal, blindada pela legalidade e protegida por discursos de neutralidade. Não se trata de ruptura, mas de captura. O golpe já não se dá contra o Estado, mas a partir dele.
Esses dois movimentos (o ataque externo e a chantagem interna) não apenas se reforçaram, eles produziram um efeito de exposição. A engrenagem mostrou sua estrutura. O que era tratado como análise conspiratória se confirmou como operação coordenada. A denúncia da PGR contra Bolsonaro, como argumentamos em A guerra híbrida no Brasil: o golpe que não foi por pouco, já havia sido um ponto de inflexão. Mas a entrada explícita de Trump e a atuação aberta do Congresso elevaram a temperatura simbólica da crise.
Nesse ponto, a contribuição de Paulo Henrique Amorim permanece incontornável. Antes mesmo da ascensão bolsonarista, ele já denunciava a articulação entre mídia corporativa, sistema judicial e interesses estrangeiros na produção de uma democracia tutelada. Sua crítica à mídia nativa e à falsa neutralidade jornalística antecipou o papel que hoje cabe às plataformas e aos grandes veículos no encobrimento da engrenagem golpista. Ao insistir que a disputa simbólica é central na luta política, e que sem linguagem popular não há soberania possível, ele lançou um fundamento que hoje ressurge com força, não só como análise, mas como prática.
Ao mostrar o rosto, o inimigo que antes operava por negação passou a disputar diretamente o centro da narrativa. E ao fazer isso, cometeu talvez seu primeiro erro estratégico. A antecipação do plano produziu resposta. O governo se movimentou. A sociedade se reorganizou. As redes entraram em combustão. A esquerda, pressionada pela realidade, foi obrigada a abandonar a linguagem morna da moderação. Pela primeira vez desde a posse, o campo democrático pareceu compreender a gravidade do que está em jogo.
Esse movimento ofensivo dos Estados Unidos também se explica por uma transformação mais estrutural, de caráter geoeconômico. Como mostrou Reynaldo Aragon em A ferrovia que incomoda Washington (Atitude Popular), o avanço da integração sul-americana por fora da hegemonia norte-americana está em curso. A construção da ferrovia bioceânica, que liga o Brasil ao Pacífico através do Peru, com financiamento chinês, altera o tabuleiro estratégico da região. Ao reduzir a dependência logística dos portos controlados pelos Estados Unidos e diversificar os fluxos comerciais, essa ferrovia materializa um projeto de soberania regional. É contra essa autonomia em formação que Trump reage. E é nesse cenário que o ataque ao Brasil deve ser compreendido.
Este capítulo marca esse ponto de virada. O plano de desestabilização continua em curso, mas seu funcionamento já não pode mais ser negado. Seu nome, sua forma e sua estratégia estão expostos. E quando o inimigo se revela antes da hora, a história começa a mudar de direção.
Capítulo 2: O campo democrático se move: reação, contenção e rearticulação emergente

A exposição pública da engrenagem golpista produziu um curto‑circuito institucional. Ao transformar o que era subterrâneo em espetáculo visível, Trump e seus aliados provocaram reações em série que alteraram a correlação imediata de forças. O governo, até então acuado, passou a atuar com iniciativa. O Congresso, dividido entre fidelidade à casta e instinto de sobrevivência, ensaiou um recuo tático. O STF, instado a reagir, voltou ao centro com declarações de autoridade. E setores da sociedade, antes desmobilizados, começaram a se articular de forma dispersa, porém coerente em torno da defesa da soberania nacional.
O vice‑presidente Geraldo Alckmin liderou encontros com agronegócio e indústria exportadora, articulando uma frente contra os efeitos do tarifaço de Trump. A pauta era estratégica, não ideológica: proteger o comércio e evitar que a guerra política virasse colapso econômico. A ação recolocou o governo em diálogo com setores historicamente conservadores, mas sensíveis à estabilidade internacional.
Lula criou um comitê interministerial para responder à crise externa, deslocando o foco do cerco orçamentário interno para a agressão internacional. O gesto foi simultaneamente técnico e simbólico: o Executivo voltou a falar em soberania, agora com vocabulário concreto e sentido popular. A crítica à Vale, exposta de forma direta no discurso de Linhares, remete ao que Jessé Souza vem descrevendo como a aliança histórica entre o topo do funcionalismo estatal e as elites econômicas, que operam juntas para capturar o Estado e bloquear qualquer redistribuição real de poder ou de renda. A empresa, transformada em corporation e entregue ao rentismo, simboliza esse pacto oligárquico que explora o bem público como se fosse propriedade privada.
No campo judicial, Luís Roberto Barroso afirmou que “a democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas... a vida ética deve ser vivida com valores, boa‑fé e busca sincera pela verdade”, e que “se houver provas, os culpados serão responsabilizados; se não houver, serão absolvidos. Assim funciona o Estado democrático de direito.” O STF se posicionou como fiador da legalidade. Em apoio, o Superior Tribunal Militar alertou para “tensionamento provocado por descabidas e inéditas intromissões externas”, ecoando a gravidade do momento.
Mas é preciso não perder de vista a ambivalência dessa atuação. O Supremo Tribunal Federal, embora cumpra agora um papel central na contenção da ofensiva autoritária, foi também um ator decisivo na normalização do lawfare e na erosão seletiva de garantias democráticas ao longo da última década. A figura de Barroso, por exemplo, hoje porta-voz da defesa da legalidade, foi protagonista na legitimação de processos que, sob a linguagem da moralidade pública, serviram à perseguição política de lideranças progressistas. Essa tensão entre forma e conteúdo revela os limites do chamado Estado democrático de direito, quando este opera como fachada institucional para disputas geopolíticas travadas no interior do próprio aparato judicial. A crítica ao autoritarismo não pode se furtar à crítica ao legalismo seletivo que o precedeu.
Mas foi nas redes que a virada ganhou forma visível. Durante o final de semana, um discurso de Lula em Linhares (ES), ao lado de vítimas do crime ambiental de Mariana, viralizou como peça de denúncia, empatia e afirmação soberana. Em tom emocionado e direto, o presidente evocou a mãe, a fome, a luta por dignidade e a reparação como prática de governo. Acusou a Vale, criticou a ausência de Bolsonaro no Espírito Santo e denunciou, sem hesitação, a tentativa de Trump interferir na Justiça brasileira a pedido do clã bolsonarista. “O que não dá é pra brincar com o Brasil”, afirmou, antes de lembrar que “tentaram trocar minha dignidade por liberdade, e eu disse não.”
O vídeo circulou em massa, gerando milhares de montagens, paródias, cortes e reações. A linguagem simples e afetiva, marcada por memória e justiça, rompeu o isolamento narrativo que vinha sendo imposto ao Planalto desde a crise do Pix. Lula recusou o tom técnico e reatou com a linguagem popular, desafiando o que Marilena Chauí descreve como a ideologia da competência, essa crença de que apenas os gestores neutros e as corporações anônimas têm legitimidade para governar. Ao nomear a fome, a mãe, o salário e o abandono, o presidente devolveu dignidade política a uma experiência de vida que o discurso tecnocrático insiste em desqualificar como ignorância ou atraso. Esse deslocamento não se deu apenas no campo da política tradicional, embora sempre tenha feito parte de sua prática. A diferença é que, desta vez, encontrou um terreno comunicacional mais fértil, uma escuta mais disposta, uma conjuntura em que a memória do sofrimento virou critério de verdade.
Esse deslocamento não se deu apenas no campo da política tradicional. Como já escrevemos, trata-se da reativação de um campo de forças onde a soberania não é apenas um princípio jurídico, mas uma linguagem compartilhada. Ao dizer “respeitem o Brasil” com sotaque pernambucano cada vez mais carregado por uma espécie de banzo nordestino (isso cabe todo um ensaio a parte) e memória de classe, Lula reatualizou a política como fala viva. Florestan Fernandes já alertava que a burguesia brasileira se move por interesses autocráticos, incapaz de aceitar qualquer projeto de nação que inclua a maioria em condições de igualdade. Nesse sentido, o que vimos no Espírito Santo não foi apenas um discurso, mas um gesto de ruptura com o modelo de país que a elite ainda tenta preservar.
Também foi decisiva a escolha de não fazer um pronunciamento solene à nação. Lula preferiu entrevistas agendadas nos dois maiores canais de TV aberta do país, com destaque para a conversa na Globo, conduzida pela sempre hostil Delis Ortiz. Ao ser entrevistado por uma jornalista que frequentemente tensiona suas respostas e representa a linha editorial golpista da emissora, Lula não apenas enfrentou o ambiente, como aproveitou o embate para reafirmar seu lugar no jogo. Esse gesto comunicacional carrega uma astúcia política: ao evitar o tom vertical e institucional de um pronunciamento, Lula se dirigiu à população por dentro das engrenagens que historicamente moldaram o imaginário político da maioria. Falou como quem conversa, não como quem determina.
O efeito foi imediato. Trechos da entrevista circularam em ritmo vertiginoso, sobretudo quando ironizou Eduardo Bolsonaro. A zombaria viralizou em formatos diversos, meme, cartoon, dublagem, mixagem, e ganhou vida própria nas redes, impulsionada por criadores populares e não predominantemente engajados que transformaram o deboche presidencial em ferramenta de vingança simbólica. A mensagem estatal se transmutou em linguagem de massa mostramos o que ja defendemos anteriormente: mangar pode ser um método precioso.
Embora nada disso indique uma frente programática consolidada, o erro de antecipação dos golpistas provocou um realinhamento. O campo democrático ainda é fragmentado, mas já se movimenta como bloco simbólico diante da ameaça comum. E a soberania, antes relegada ao discurso de nicho, voltou a ocupar o centro da cena política.
A manifestação do dia 10 de julho na Avenida Paulista adicionou um novo capítulo a esse deslocamento simbólico. Com 15.100 pessoas nas ruas, reivindicando a taxação das grandes fortunas, protestando contra a jornada de trabalho 6x1 e afirmando a soberania nacional como bandeira central, o ato superou numericamente a mobilização da extrema direita realizada em 29 de junho, que reuniu 12.410 manifestantes segundo avaliação técnica baseada em metodologia aplicada pela USP. Não se trata apenas de números. Trata-se de uma inflexão histórica. Pela primeira vez desde 2016, a esquerda protagonizou um ato de rua maior do que o bolsonarismo com base em métricas comparáveis. A simbologia do feito vai além do quantitativo. Marca o retorno da soberania como vocabulário de massas, a ruptura do isolamento narrativo da esquerda e o início de uma nova articulação entre base popular e enfrentamento institucional. O país assistiu a um gesto coletivo que, mais do que expressar indignação, reorganiza o campo de forças no espaço público. É, sem exagero, motivo para abrir uma boa cerveja.
Capítulo 3: Redes em chamas

As instituições se mexeram, mas foi às redes que a reviravolta ganhou forma cultural. O campo simbólico da crise se incendiou em duas frentes. De um lado, a reação popular organizada de forma descentralizada, com memes, vídeos, vozes anônimas e inteligência artificial. Do outro, a tentativa da extrema direita de manter a pose em meio ao cerco jurídico e diplomático. A disputa deixou de ser apenas pelo conteúdo dos fatos e passou a girar em torno da sua moldura afetiva, da sua capacidade de mobilizar vergonha, orgulho, indignação ou riso.
O discurso de Lula no Espírito Santo e o deboche com Eduardo Bolsonaro, com sua carga afetiva e pedagógica, catalisou essa virada. Conforme já escrevemos em Mangar é método, a extrema direita deve ser combatida no campo da linguagem, não apenas com razão e denúncia, mas com ironia precisa. A esquerda, muitas vezes refém da gravidade institucional, falhou em compreender o riso como arma. A recente virada das massas digitais mostrou que há um novo repertório em disputa. Mangar, nesse contexto, não é humilhar, mas rasgar o verniz de autoridade que sustenta o autoritarismo. O meme de um vira-lato caramelo abocanhando feliz uma águia careca americana não precisa de legenda nem argumento. É deboche como vacina simbólica.
O uso de inteligência artificial para replicar vozes, traduzir vídeos, animar personagens e reencenar discursos foi central nessa virada. Montagens circularam ao lado de edições que colocavam Trump cenas de humilhação e trapalhadas. O efeito dessas produções não foi estético e cognitivo. Como já dissemos, o humor entra onde a razão não alcança. Ele desmonta certezas sem precisar confrontá-las diretamente, gerando ruídos que desestabilizam as crenças mais blindadas. Ao mangar da elite, ao zombar da retórica moralista da extrema direita, a inteligência popular nas redes reintroduz o negativo na cultura digital. Como sugere Byung-Chul Han, a era da positividade tende a silenciar o conflito e esvaziar o simbólico. O riso, nesse contexto é uma forma de resgatar o estranhamento diante do que se pretende normal.
O deboche generalizado nas redes emparedou cada perfil: do político com pouco engajamento que achou a oportuniadde de viraliza ao influenciador que jura não ser de esquerda nem de direita, passando por você mesmo, que... não postou nada, por quê? Durante alguns dias, a sobriedade excessiva deixou de ser charme de low profile para se tornar sinal de alerta. O meme virou exigência coletiva e quem não ria com o povo, parecia rir do povo.
Nesta janela de insurgência simbólica surgiu um novo combustível: a expectativa pelas alegações finais da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro. A reta final do julgamento da trama golpista coincidiu com uma explosão de buscas e compartilhamentos. As redes fervilhavam de perguntas, apostas e reações. Qual seria o próximo passo? Que provas seriam reveladas? A incerteza mobilizava as redes enquanto os bolsonaristas mais radicais se retraíam ou partiam para teorias cada vez mais delirantes.
Longe de ser uma bolha, esse movimento teve efeito real sobre a opinião pública. Pesquisas internas do PL indicaram que Lula cresceu entre eleitores bolsonaristas no início da semana. E os dados da pesquisa Atlas/Bloomberg confirmam a tendência: 64% dos brasileiros consideram a taxação imposta por Trump injustificada, e 58% a veem como ameaça à soberania nacional. A maioria aprova a resposta do governo e defende que o Brasil adote retaliações (59,3%). A pesquisa foi realizada entre 11 e 13 de julho de 2025, com 2.841 entrevistas, amostragem nacional, metodologia RDR e margem de erro de dois pontos percentuais.
A percepção de que a medida norte-americana teve motivação política colou: 58,2% acreditam que a taxação foi retaliação pessoal de Trump contra Lula, e 64,6% avaliam que ela terá impacto negativo na economia brasileira. Não por acaso, 48,3% dos brasileiros já dizem ter uma imagem negativa dos Estados Unidos, enquanto 60,6% têm imagem negativa de Trump. O campo simbólico está em disputa, e Lula tem vencido batalhas importantes.
A aprovação da política externa do governo é de 50,5%, superando a desaprovação (36,6%). E 55,3% dos brasileiros dizem que Lula representa melhor o Brasil no cenário internacional do que Bolsonaro. A mudança não se explica apenas pela economia ou pela pacificação institucional. Ela decorre também de uma reconfiguração simbólica, onde a figura do presidente reaparece como alguém que fala direto com o povo, sem mediações ou arrogância, sem precisar disputar com algoritmos o direito de dizer o óbvio.
O que se viu nas redes durante os últimos dias foi uma disputa por sentido. Como observa Byung-Chul Han, a era digital tende a dissolver a linguagem em ruído. O uso politizado da sátira e da inteligência artificial mostrou que ainda é possível produzir densidade simbólica mesmo em meios marcados pela velocidade e pelo consumo imediato. Um exemplo disso é o modo como a palavra soberania, até então distante do vocabulário cotidiano, passou a circular com naturalidade. Conceito historicamente abstrato, ela tem sido absorvida como síntese afetiva e política de um mal-estar coletivo, talvez ocupando o espaço deixado pela palavra patriota, esvaziada e ridicularizada pelo bolsonarismo e suas fantasias de quartel.
A virada não está consolidada, mas seus sinais são claros. A narrativa autoritária, baseada no medo, no ressentimento e na pose de superioridade moral, começou a rachar. Quando o fascismo vira piada, perde força. Quando a mentira exige esforço para ser mantida, enfraquece. E quando a verdade reaparece com sotaque, humor e memória, ela não apenas informa. Ela cura.
A pergunta que se coloca agora é como sustentar essa maré simbólica sem a deixar escorrer para a lógica da performance. O desafio é manter o riso como rasura, não como anúncio. A soberania, afinal, também se faz de memes.
Capítulo 4: O contra-ataque virá

Nenhuma estrutura de poder cede de forma definitiva. Quando exposta, ela recua. Quando desmascarada, ela silencia. Mas recuo e silêncio, em política, não são sinais de derrota. São ajustes de rota.
O tarifaço de Trump, a chantagem de Hugo Motta e o cerco judicial ao clã Bolsonaro criaram um ponto de inflexão. O campo democrático respondeu com articulação institucional, mobilização simbólica e reação popular. As redes tomaram partido. Os ministros assumiram o conflito. A sociedade se reposicionou. E o resultado foi visível: Tarcísio de Freitas, que havia apoiado a medida, recuou publicamente, classificando o tarifaço como ameaça ao país. Donald Trump, que havia atacado o STF e o governo Lula, anunciou que está aberto a negociações comerciais. Esses recuos não anulam o plano, mas mostram que ele perdeu o controle da narrativa. Como escrevemos em Negacionismo de esquerda, subestimar o papel da correlação de forças é repetir, com pose radical, o erro do purismo político. Não é a força moral de um argumento que define sua eficácia. É sua capacidade de ocupar posições estratégicas, de alterar percepções coletivas e de desorganizar o discurso do adversário. Quando Trump recua, não é por consciência. É porque a reação foi maior do que ele calculava.
Mas o contra-ataque virá. E virá com método.
A extrema direita não opera apenas por meio de partidos. Ela é uma engrenagem algorítmica, um exército digital invisível que atua na captura do tempo, da linguagem e da atenção. Seus operadores já testam novas formas de presença: personalidades de mídia reacionária surgem como supostos moderados, grupos religiosos voltam a organizar campanhas de desinformação segmentadas e aplicativos de mensagens funcionam como bases logísticas de reorganização simbólica, com listas segmentadas, disparos automatizados e linguagem cifrada para públicos específicos.
Como detalhado em Código de guerra: como o algoritmo substituiu a farda, a militarização do discurso não exige tanques. Exige dados, padrões de comportamento e ferramentas de automação. A guerra de 2026 já começou e ela não será travada apenas nas urnas, mas no campo sensível da realidade partilhada. A disputa não é apenas por votos, mas por frames, por repertórios afetivos e por padrões cognitivos.
Mark Fisher escreveu que o realismo capitalista não precisa convencer. Basta que esgote. Quando o presente parece inevitável, a política se transforma em gestão de ruínas. É nesse cenário que o ressentimento ganha força. E é nesse vácuo que o autoritarismo recria sua legitimidade. O bolsonarismo sabe disso. Ele recua para voltar com nova estética, nova linguagem e novos aliados.
Nancy Fraser nos ajuda a entender por que isso funciona. O fracasso do neoliberalismo progressista (aquele que prometeu inclusão simbólica sem redistribuição econômica) produziu uma fratura entre reconhecimento e justiça. A extrema direita ocupa esse espaço com uma retórica de proteção moral, defesa da família e soberania nacional fictícia. Enquanto isso, o capital reorganiza seus circuitos, como alertado em O império dos dados e a colônia Brasil. A nova corrida do ouro são os dados. E o Brasil, se não reagir, continuará sendo fornecedor de informação bruta para plataformas que alimentam a desinformação.
O fascismo não precisa tomar o poder para vencer. Ele vence quando normaliza seus signos. Quando transforma o absurdo em regra e a exceção em método. Quando sequestra o senso comum e ocupa a linguagem da maioria. A guerra cultural, como demonstrado em Game over: como a direita zerou o jogo, já redesenhou o terreno. A questão agora é se o campo democrático terá coragem de reconstruí-lo.
O recuo de Trump e Tarcísio é, ao mesmo tempo, sinal de força e alerta. Eles sabem que erraram o tempo. E sabem que ainda há tempo. O que virá não será a repetição exata do que foi. Será algo mais discreto, mais calculado e mais eficiente.
A extrema direita, ferida, vai contra-atacar. E será em breve.
O contra-ataque virá porque o ataque foi real. E veio de múltiplas frentes, todas simultâneas. Enquanto as redes reverteram o fluxo da narrativa, o campo institucional também se mexeu. O julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, por exemplo, escancarou a disputa sobre a responsabilização das plataformas pela desinformação. Um julgamento puxado pelo STF justamente no meio da crise do IOF, bem perto da denúncia final da PGR contra Bolsonaro. Talvez seja uma coincidência, mas na política de camadas, o timing também é discurso.
No mesmo compasso, o Supremo anulou o processo de Alberto Youssef, o homem que inaugurou a era do delator premiado, o paciente zero da Lava Jato. A decisão tem potencial de corroer a base jurídica de toda a operação, minando retroativamente sua arquitetura de exceção. A lavajatolatria, tão útil à guerra híbrida, perdeu mais um pilar. E dessa vez, sem alarde, sem PowerPoint, sem Curitiba.
Enquanto isso, no tabuleiro do IOF, o STF tentou empurrar o abacaxi para o Executivo, recomendando um acordo com o Centrão. Mas o plano saiu pela culatra. Governo e Congresso devolveram o abacaxi intacto, com recado claro, a Corte deve cumprir seu papel constitucional e julgar. Ou seja, a toga terá que decidir, com todas as letras, se o Brasil pode ou não proteger sua soberania fiscal. E o preço político da decisão será da própria Corte. Um movimento revelador, a instância que antes ditava o jogo a partir dos bastidores agora será forçada a falar em voz alta.
Essa combinação de pressões, jurídicas, simbólicas e institucionais, rompeu o equilíbrio do pacto. Daí o recuo. Mas por isso mesmo, a revanche virá. Porque o sistema foi atacado nos seus pontos vitais, e sabe disso.
A dúvida é se o campo progressista vai perceber. Porque temos, entre nós, uma esquerda tão sofisticada que, diante de um conflito direto com o império, preferiu fiscalizar o canal de TV escolhido por Lula. Enquanto o presidente subia o tom, assumia o enfrentamento e catalisava apoio simbólico nas redes, teve gente que gastou sua suposta radicalidade lamentando que o pronunciamento foi na Globo e na Record. E quem saiu em defesa da soberania nacional foi um general bolsonarista e o Estadão. Mourão condenou o tarifaço de Trump. O Estadão chamou Bolsonaro de patriota fajuto. E parte da esquerda segue firme no seu esporte preferido: criticar quem ousa vencer.
Capítulo 5: Soberania informacional como fronteira da luta democrática

Se a guerra híbrida é hoje a principal forma de desestabilização de regimes democráticos, a soberania informacional se torna a fronteira estratégica da resistência. O ataque à democracia brasileira não se limita ao plano institucional. Ele opera por meio da captura da infraestrutura digital, da manipulação algorítmica da linguagem pública e da colonização das emoções. É nesse campo que se travam as batalhas decisivas do presente.
Essa engrenagem, que hoje se revela em sua forma mais nítida, não surgiu do nada. Ela opera há mais de uma década sob o véu da normalidade institucional. Desde as Jornadas de Junho de 2013, o Brasil se tornou um laboratório privilegiado de guerra informacional e desestabilização simbólica. O que parecia, à época, um levante espontâneo e plural revelou-se a fase inaugural de uma ofensiva coordenada, em que mídias corporativas, redes digitais desreguladas e plataformas transnacionais passaram a organizar o campo da disputa política por fora das instituições formais. O acaso, como mostram certos documentos, costuma ter auxílios. Três anos antes de 2013, já havia uma aceleração deliberada da batalha pelas ideias, como revelam os arquivos analisados por Luan Brum e Jahde Lopez, entrevistados no documentário do jornalista Bob Fernandes. A investigação, baseada em 143 caixas armazenadas no Instituto Hoover, da Universidade de Stanford, escancara a arquitetura da infiltração neoliberal no Brasil. A Atlas Network, fundada em 1982 pelo empresário britânico Anthony Fisher e articulada na América Latina por Alejandro Chafuen, operou com financiamento direto do Estado norte-americano, por meio da USAID, do NED e do CIP. Só entre 1998 e 2018, 139 milhões de dólares circularam pela rede. Somando os aportes da USAID e de seus parceiros, foram mais de 1,6 bilhão de reais injetados em projetos e organizações liberais no país. A falha das instituições em reconhecer essa mutação foi determinante.
Essa operação não se valeu apenas de partidos, mas de uma guerra cultural sistêmica. Primeiro, conquistando professores, escritores e influenciadores. Depois, avançando sobre a mídia, o parlamento e o judiciário. A Série Notas, por exemplo, criada nos anos 1990 pelo Instituto Liberal do Rio de Janeiro, redigia pareceres e projetos de lei direcionados ao Congresso Nacional, pagos em dólar. Em 2010, no Fórum da Liberdade de Porto Alegre, foi lançado o roteiro da tomada de poder: usar think tanks, financiar lideranças, ocupar o Estado. Em 2016, a queda de Dilma foi celebrada por esses mesmos institutos. Em 2018, Sérgio Moro foi o convidado de honra do Fórum. Em 2019, um relatório da própria Atlas reconheceria com entusiasmo o governo Bolsonaro como avanço estratégico, diante do que chamavam de risco socialista na América Latina.
Entre 2013 e 2022, enquanto o bolsonarismo articulava sua ecologia paralela de sentido, o Estado seguiu operando como se a arena política fosse regida por regras clássicas da democracia liberal. Esse anacronismo institucional, essa recusa em nomear a guerra, é parte do que permitiu que o golpe se tornasse método.
As plataformas não são neutras. Elas são os novos centros de comando do capitalismo de vigilância, onde decisões políticas são transformadas em fluxos de dados, e onde a lógica do lucro se impõe sobre qualquer ideia de verdade, justiça ou interesse coletivo.
Esse cenário marca a transição da guerra híbrida para sua forma mais avançada: a guerra cognitiva. Se a guerra híbrida combina lawfare, desinformação, cerco econômico e manipulação simbólica, a guerra cognitiva atua diretamente sobre os circuitos perceptivos, afetivos e interpretativos da população. O objetivo já não é apenas desinformar, mas condicionar. A moldura da realidade é manipulada de forma técnica e contínua por plataformas que operam algoritmicamente sobre a atenção, a linguagem e o comportamento. O inimigo invisível já não é o exército do outro país, mas a transformação da mente coletiva em território ocupado. A soberania informacional, nesse estágio, não é mais apenas uma questão de infraestrutura digital, mas de existência política. Proteger a democracia é, antes de tudo, defender a integridade cognitiva de um povo.
O Brasil, como demonstramos no artigo Diagnóstico dos desafios da soberania informacional no Brasil, vive uma situação de dependência estrutural. Não controla seu tráfego digital, não regula seus algoritmos e não possui mecanismos eficazes para proteger sua população contra campanhas massivas de desinformação.
A extrema direita compreendeu isso com antecedência. Como já analisado em textos anteriores, ela criou um ecossistema paralelo de informação, mobilização e identidade, operado por redes automáticas, influenciadores pagos e plataformas tolerantes à violência simbólica. Esse sistema não precisa da verdade para funcionar. Precisa apenas de engajamento. E é isso que ele produz: ciclos viciados de ódio, medo e ressentimento, que deslocam o centro da política para fora do debate público.
Mas a disputa está em curso. A mobilização simbólica que emergiu em resposta ao tarifaço de Trump, à chantagem do Congresso e ao ataque ao STF mostrou que há potência popular nas redes. A viralização do discurso de Lula em Linhares, a inteligência afetiva da militância digital e a criatividade dos conteúdos produzidos por influenciadores progressistas revelam que o campo democrático aprendeu a operar com linguagem de massas, estética de redes e estratégias de contágio simbólico. Ainda que fragmentada, a reação existe. E ela precisa ser organizada.
Para isso, é necessário reconhecer que a luta por soberania informacional não é apenas técnica. Ela é política, cultural e comunicacional. Exige regulação estatal com base na Constituição, mas também exige protagonismo popular. Plataformas não podem seguir funcionando como território livre para a guerra psicológica. É preciso exigir transparência, responsabilização e garantia de direitos. Mas também é preciso disputar os sentidos. Reocupar a linguagem. Produzir novos vínculos.
A experiência brasileira mostra que há caminhos. Iniciativas de comunicação popular, redes de influenciadores periféricos, coletivos de cultura digital e campanhas de educação midiática vêm criando formas alternativas de resistência. Mas esses esforços não podem seguir isolados. Devem ser articulados como política de Estado e projeto de país.
A guerra algorítmica já está em curso. E, como toda guerra, ela não se vence apenas com razão. Vence-se com coragem, com método e com imaginação coletiva. Proteger a soberania informacional do Brasil é, hoje, proteger a democracia.
Conclusão: O que já começou ainda não terminou

A história recente do Brasil não se move em linha reta. Ela pulsa em ciclos, tensões e contragolpes. Quando o plano golpista foi desmascarado, não era o fim de um processo. Era o início de uma nova fase. A entrada de Donald Trump, a chantagem explícita do Congresso, a denúncia da PGR e a exposição da engrenagem digital de desinformação revelaram que o projeto autoritário segue ativo, articulado e adaptável. Mas pela primeira vez desde 2016, sua estrutura tremeu.
O que se abriu, com a antecipação do plano e a exposição da engrenagem, foi uma rara janela estratégica. Clausewitz chamou de momento decisivo aquela conjuntura fugidia em que as forças em campo oscilam, a névoa da guerra se dissipa por um instante e uma decisão acertada pode mudar o curso da história. Lênin, em outro tempo, dizia que há décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem. Estamos nesse tempo comprimido, de alta temperatura histórica, onde o impossível parece se mover. Não havíamos previsto isso. Mas está aqui. E cabe à esquerda, aos movimentos populares e ao campo democrático perceber o que nos foi entregue: uma oportunidade de reorganização simbólica e material com potencial de alterar os rumos do país. O inimigo errou o tempo. E esse erro abriu uma brecha que precisa ser ocupada com método, coragem e vocabulário popular.
O inimigo errou o tempo. E esse erro abriu uma brecha que precisa ser ocupada com método, coragem e vocabulário popular. Tarcísio meteu os pés pelas mãos. Tentou surfar no tarifaço com uma performance constrangedora: enquanto Lula recebia o apoio de 37 grandes empresários ao lado de Alckmin, o governador paulista se reunia com Paulo Skaf, símbolo da indústria sem indústria, numa tentativa desesperada de produzir uma imagem de autoridade. Saiu menor do que entrou. Ao mesmo tempo, Michelle Bolsonaro lia uma carta igualmente ridícula ao presidente Lula, no púlpito de uma igreja cercada de mães atípicas, em tom pentecostal. A extrema direita, exposta, passou recibo de que está sem direção, sem estética e sem timing.
O silêncio da extrema direita não é rendição. É estratégia e a reorganização simbólica das redes conservadoras já está em curso. O bolsonarismo, mesmo sob o desgaste da liderança original, não perdeu sua base de sustentação afetiva. Michelle Bolsonaro, longe de rachar o núcleo duro, vem sendo ungida como herdeira emocional e mística do espólio político, mantendo viva a gramática do ressentimento e a estética do martírio. Como alertaram Umberto Eco, Nancy Fraser e Mark Fisher, o autoritarismo contemporâneo não precisa de tanques. Precisa de algoritmos, ressentimento e narrativas emocionalmente eficientes. A guerra informacional não cessou. Ela apenas mudou de forma.
A virada provocada pela tarifa de Trump, percebida como ataque à soberania por ampla maioria da população, reorganizou afetos e alianças no campo democrático. O governo respondeu com altivez, a diplomacia se reposicionou, e o campo popular reencontrou vocabulário. A retórica do medo cedeu espaço a uma linguagem de combate. O inimigo errou o alvo. E o país sentiu.
As reações vieram de múltiplos lados. O governo federal não se acovardou. O STF respondeu com firmeza. A militância digital encontrou linguagem. E a sociedade, ainda que dividida, percebeu que o conflito em curso é mais profundo do que qualquer disputa eleitoral. Ele diz respeito à soberania, à memória e à própria possibilidade de futuro.
Como mostramos ao longo dos capítulos, o que antes operava em silêncio passou a se exibir. E esse excesso de confiança produziu fissuras. O recuo de Trump e Tarcísio, a virada nas redes, o crescimento de Lula até entre bolsonaristas, tudo isso revela que a disputa simbólica foi reaberta. E nesse campo, não basta vencer tecnicamente. É preciso convencer, mobilizar e reencantar.
Neste cenário, a soberania informacional emerge como desafio central. Não haverá democracia estável sem controle público das infraestruturas digitais, sem regulação do capital informacional e sem protagonismo popular na disputa pelos sentidos.
Essa luta precisa se desdobrar também como formação. É hora de construirmos uma pedagogia da soberania. Uma prática política que politize o cotidiano, as redes, a linguagem e a memória, que recupere a dimensão formativa da cultura digital e transforme cada meme, cada fala, cada disputa simbólica em trincheira de consciência. A insurgência que emerge das redes precisa ser conectada à formação política permanente, aos saberes populares, às pedagogias de rua, às comunidades que ainda guardam memória. Soberania não é só projeto institucional. É vocabulário vivo, é afeto politizado, é rede de pertencimento. Formar é resistir. E resistir é disputar o sentido do mundo.
Resistir ao novo ciclo do golpe exige mais do que defesa. Exige reconstrução. Exige linguagem, projeto e coragem política.
O contra-ataque da extrema direita virá. E quando vier, não pedirá licença. Ou enfrentamos essa nova fase com um projeto nacional enraizado na soberania popular, ou seremos engolidos pela próxima onda com outro nome, outra estética e a mesma estrutura de dominação. A resistência, por si só, não basta. É hora de disputar a imaginação coletiva. Precisamos de projeto, vocabulário, estética e política institucional. Precisamos nomear o país que queremos com as palavras de quem o constrói todos os dias. A reconstrução exige mais do que denúncia. Exige estratégia. E exige paixão organizada. A disputa não é apenas por sobrevivência democrática, mas pela reinvenção da democracia a partir do povo. Não basta impedir o golpe. É preciso refundar o Brasil.
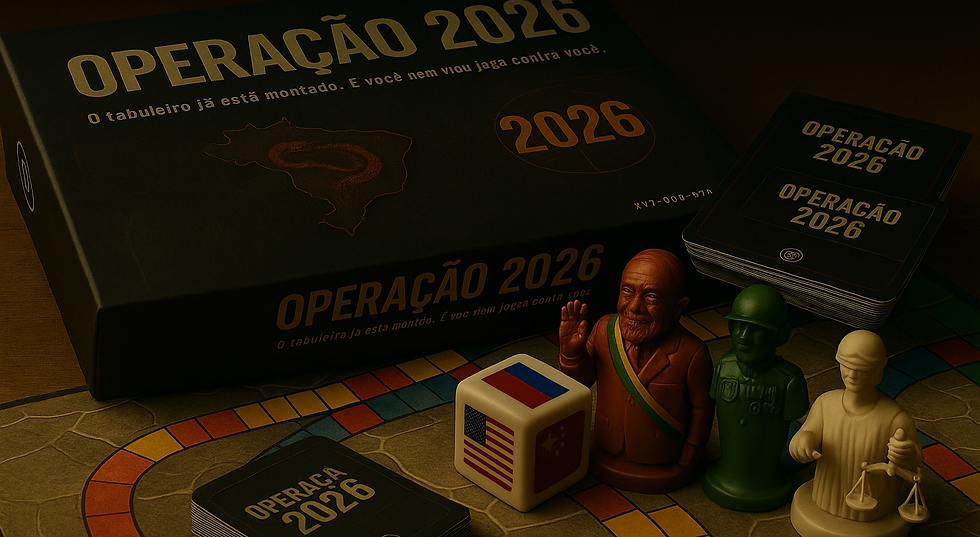

Comentários