3I Atlas, mergulho cometário, a dialética do cosmos e a beleza da ciência
- Rey Aragon

- 20 de set. de 2025
- 14 min de leitura

Uma jornada filosófica e científica pelos mergulhos cometários que iluminam o céu e desafiam nossos paradigmas
Em 2025, múltiplos cometas atravessam o Sistema Solar, trazendo consigo não apenas espetáculo celeste, mas também contradições, mistérios e novas perguntas. Este ensaio mergulha no diálogo entre astronomia e filosofia — de Marx a Engels, de Gramsci a Althusser, com a inspiração poética de Carl Sagan — para mostrar como a ciência, em sua beleza, é também filosofia, política e emancipação humana.
Introdução

Escrevo estas páginas como alguém que sempre caminhou no terreno das ciências humanas — pesquisador das formas políticas, dos comportamentos sociais, das tecnologias que modulam a vida. Nunca fui exímio em matemática; os números, para mim, sempre tiveram mais ares de muralha do que de estrada. Mas aprendi que a ciência não se reduz às equações que não sei resolver: ela pulsa também na perplexidade, na intuição, na capacidade de espanto.
É desse espanto que nasce este ensaio. Trago comigo um amor profundo por toda a ciência, mas a astronomia tem o poder de desarmar minhas defesas racionais e expor aquilo que há de mais vulnerável em mim: a emoção diante do cosmos. Não é a emoção fácil, do clichê ou da metáfora vazia. É a emoção que nasce do rigor, da consciência de que cada ponto de luz no céu carrega séculos de cálculo, séculos de erros e superações, séculos de luta entre paradigmas. É a emoção que reconhece, na trajetória de um cometa, a contradição entre conservação e destruição, entre permanência e dissolução, entre o arquivo do passado e a fagulha de futuro.
Ao escolher escrever sobre os cometas de 2025, não o faço como astrônomo, mas como alguém que se recusa a aceitar fronteiras rígidas entre ciência e filosofia, entre cálculo e poética. Sigo o farol do Materialismo Histórico-Dialético, aprendendo com ENGELS, MARX, GRAMSCI e ALTHUSSER que a natureza, como a história, é movimento dialético: contradições em processo, negações que se superam, sínteses que se refazem. E encontro em Carl Sagan — herói da ciência e da astrofísica — a prova de que o conhecimento, quando partilhado com ternura, pode ser também beleza e emancipação.
Escrevo, portanto, não para competir com a técnica dos astrônomos, mas para unir minhas ferramentas — a filosofia, a política, a crítica — ao espanto diante do céu. O que apresento aqui é um testemunho: de como a ciência, longe de ser neutralidade fria, pode ser também filosofia viva, poesia material e pedagogia popular. É um convite para que cada cometa seja visto não apenas como fenômeno celeste, mas como lição dialética: o universo nos ensinando, mais uma vez, que nada é absoluto, tudo é movimento.
Abertura — O céu como dialética viva

O céu nunca foi um quadro imóvel, ainda que os olhos humanos o tenham contemplado durante séculos como se fosse estático. Desde as primeiras cosmologias até a revolução copernicana, o firmamento foi interpretado como esfera de ordem, harmonia e permanência. Mas a astronomia, quando lida sob o farol do Materialismo Histórico-Dialético, revela outra verdade: o cosmos é contradição em movimento, síntese de processos que se afirmam e se negam sem cessar. É exatamente esse horizonte que 2025 nos apresenta, com a chegada quase simultânea de múltiplos cometas — mensageiros gelados, arquivos do passado primordial, mas também anunciadores da negação de nossas certezas.
Um cometa não é apenas poeira e gelo vagando ao acaso. Ele é a memória material de bilhões de anos condensada num núcleo que, ao se aproximar do Sol, entra em conflito com sua própria estrutura. O aquecimento solar é ao mesmo tempo força vital e força destrutiva: sublima o gelo, rasga a superfície, lança jatos de gás e plasma que criam a cauda. O que era sólido se dissolve, o que era invisível se torna espetáculo. Aqui a natureza confirma ENGELS: a dialética está inscrita na própria tessitura do real. A conservação é acompanhada da destruição, a ordem contém o germe do caos, e a beleza nasce justamente do embate entre contrários.
Mas essa contradição não é apenas natural; é também epistemológica. Cada mergulho cometário desafia os paradigmas astronômicos vigentes, força a ciência a revisar hipóteses, a recalibrar modelos, a se refazer no contato com o inesperado. Se o positivismo prometia leis definitivas, os cometas lembram que a astronomia é feita de incertezas férteis. MARX nos advertia que a verdade é sempre histórica; na astronomia, a verdade é sempre transitória, provisória, submetida ao julgamento dos fótons que chegam às lentes e dos rastros que queimam nas câmeras CCD. Não há ciência sem crise, e não há crise sem avanço.
Gramsci entenderia esses cometas como momentos de hegemonia cultural em disputa. Um céu riscado de luz não é apenas fenômeno físico: é também uma abertura simbólica, uma possibilidade de pedagogia popular. Quando o povo olha para cima e se pergunta “o que é isso?”, a ciência disputa sentidos, enfrenta o irracional, planta sementes de crítica e de encantamento. A astronomia é, nesse sentido, não só ciência natural, mas também ciência social: constrói narrativas, organiza o senso comum, disputa espaço na cultura. O brilho de um cometa é, ao mesmo tempo, cauda de poeira e trincheira cultural.
Sob esse prisma, o céu de 2025 é um laboratório dialético. De um lado, o visitante interestelar 3I/ATLAS nos lembra que não somos totalidade fechada: somos atravessados pelo outro, pelo imprevisto, pela alteridade cósmica. De outro, os cometas R2 (SWAN) e A6 (Lemmon) prometem um espetáculo acessível, democratizando o espanto científico em noites de outubro. No mesmo ano, G3 (ATLAS) se fragmentou, negando nossas previsões e oferecendo mais perguntas que respostas. O cosmos ensina: nada é absoluto, tudo é processo. A astronomia, nessa chave, não é um catálogo de leis, mas uma filosofia material da mudança.
É nessa encruzilhada entre ciência e filosofia, entre método e poética, que se ergue este ensaio. Uma ode à astronomia como prática dialética: nem dogma, nem superstição, mas caminho humano para compreender que a beleza está na contradição, e que a verdade, como os cometas, é sempre movimento.
Contradições do tempo e do espaço — o Outro cósmico

O céu de 2025 não nos oferece apenas belezas previsíveis. Entre os visitantes gelados que retornam cíclicos, há um intruso radical: 3I/ATLAS, o terceiro objeto interestelar a atravessar nosso sistema. Diferente dos filhos da Nuvem de Oort, sua órbita é hiperbólica: não se curva ao domínio do Sol, apenas o atravessa, segue adiante e some no escuro. É o signo da alteridade cósmica, o “Outro” que irrompe sem pedir licença, lembrando-nos que o Sistema Solar não é totalidade fechada, mas apenas recorte de um processo maior, aberto, incompleto.
Esse corpo estranho tensiona não só a gravidade, mas também a própria ciência. Por décadas, os manuais repetiram que a astronomia lidava com objetos conhecidos: planetas, asteroides, cometas de longo ou curto período. Mas em 2017, com ʻOumuamua, e em 2019, com Borisov, essa certeza foi negada. Agora, em 2025, a negação se repete. ALTHUSSER diria que vivemos um corte epistemológico: quando um objeto recusa ser explicado pelas categorias antigas, somos obrigados a produzir novas. A ciência não avança por acumulação linear de dados, mas por rupturas que desorganizam o pensamento e obrigam a reorganizar todo o edifício.
A trajetória de 3I/ATLAS é mais que uma curva em equações diferenciais. Ela é metáfora do tempo histórico. Se a órbita elíptica é o ciclo, a repetição, a volta que garante previsibilidade, a órbita hiperbólica é o evento, a irrupção que não retorna. MARX lembrava que a história se move em saltos, que o processo histórico não é mera sucessão cronológica, mas ruptura qualitativa. O cometa interestelar, ao atravessar nosso céu, materializa essa lógica: não vem para repetir, mas para negar, para romper, para deslocar o horizonte de normalidade.
Para a filosofia da ciência, cada aparição interestelar é um lembrete da insuficiência de nossos paradigmas. A estatística orbital previa raridade quase infinita desses encontros; a realidade, em menos de uma década, já nos apresentou três. O imprevisto exige teoria nova. É a negação do positivismo que ainda insiste em confundir ciência com certeza. A dialética ensina: a verdade não é imóvel, mas movimento. ENGELS, em A Dialética da Natureza, advertia que a ciência precisa aprender a lidar com o “absolutamente inesperado”, com a irrupção do novo que nega nossas leis provisórias. O 3I/ATLAS é justamente isso: um desmentido que ilumina.
Na mesma chave, GRAMSCI nos ajuda a pensar a dimensão cultural dessa aparição. O senso comum tende a transformar o desconhecido em superstição ou em espetáculo midiático. A hegemonia científica, por sua vez, tem a tarefa de disputar esse espaço simbólico: ensinar que o estranho não é ameaça, mas riqueza; que o inesperado não é sinal de desordem, mas motor da história natural. O cometa interestelar é, nesse sentido, trincheira cultural: pode ser apropriado pela pseudociência, mas também pode ser momento de pedagogia pública, em que a ciência revela sua grandeza filosófica.
Assim, 3I/ATLAS não é apenas um ponto fraco de luz nos telescópios. É uma contradição viva entre tempo e espaço, repetição e ruptura, ordem e caos. É a prova material de que o cosmos não cabe em nossos manuais, e que a ciência, se quiser ser verdadeira, deve aceitar o desafio de se reinventar. Aqui se revela a grande lição dialética: o universo não confirma nossas certezas, ele as nega — e é dessa negação que nasce o conhecimento.
O espetáculo do inesperado e a pedagogia do espanto

Há momentos em que o cosmos decide falar diretamente ao povo. Outubro de 2025 será um desses instantes raros: dois cometas, C/2025 R2 (SWAN) e C/2025 A6 (Lemmon), prometem cruzar o céu em magnitudes capazes de serem vistas a olho nu. Não se trata apenas de cálculo orbital ou de tabelas técnicas de magnitude. Trata-se de uma experiência coletiva: crianças, trabalhadores, velhos e jovens poderão erguer os olhos numa mesma noite e testemunhar uma dança luminosa que conecta a Terra ao infinito.
Esse encontro é, ao mesmo tempo, espetáculo e lição. O espetáculo reside na cauda que se acende, nos gases e poeiras que se desprendem do núcleo gelado para formar um rastro que desafia a escuridão. A lição está na dialética material: o brilho do cometa não é sinal de estabilidade, mas de crise. O que aparece no céu é a contradição entre conservação e destruição, entre arquivo e transformação. O núcleo, ao sublimar, dissolve-se. O espetáculo é, na verdade, a morte lenta do cometa. Mas é justamente nesse colapso que nasce sua beleza.
GRAMSCI falava da luta pela hegemonia cultural como a batalha para conquistar o senso comum. Os cometas de outubro são trincheiras nessa luta. O senso comum pode ver neles sinais, presságios, superstições. A ciência, se souber disputar esse momento, pode transformá-los em pedagogia do espanto. Não se trata de reduzir a beleza a fórmulas físicas, mas de mostrar que a explicação não elimina o encanto — pelo contrário, o amplia. O povo que entende que está vendo gelo de bilhões de anos sublimar diante do Sol não perde a poesia: ganha consciência.
E aqui reencontramos a dialética marxista: a beleza não está na suspensão da razão, mas na união entre razão e emoção. O espanto, quando mediado pela ciência, torna-se ferramenta de emancipação. Não há necessidade de escolher entre poesia e método; o cometa mostra que ambos podem coexistir. O brilho que deslumbra os olhos é o mesmo que alimenta gráficos fotométricos e debates acadêmicos. A mesma cauda que emociona uma criança pode redefinir modelos teóricos de sublimação. Eis a síntese dialética entre popular e erudito, entre experiência sensível e abstração científica.
Esse momento de outubro será, portanto, mais do que um evento astronômico: será uma oportunidade histórica de reencantar o mundo sem recorrer à superstição. Um céu riscado por dois cometas, sob a Lua Nova e as chuvas de meteoros Orionídeas, será assembleia cósmica e pedagógica. A ciência, aqui, torna-se hegemonia cultural no sentido gramsciano: ganha legitimidade ao tocar o coração do povo.
O fracasso como triunfo da ciência

Janeiro de 2025 trouxe um cometa que parecia destinado ao heroísmo: C/2024 G3 (ATLAS), um sungrazer que mergulhou a menos de 0,1 UA do Sol. Durante dias, astrônomos e curiosos esperaram um espetáculo, uma aurora cósmica digna dos livros. Mas o que se seguiu foi outro tipo de beleza: o núcleo não resistiu à proximidade solar e se fragmentou, deixando para trás rastros difusos, uma pluma desordenada, uma cauda de sódio e potássio que se dissipava em silêncio. O que muitos chamaram de fracasso foi, para a dialética da ciência, um triunfo.
Pois o que a observação mostrou não foi o vazio, mas a negação de nossas expectativas. O colapso expôs camadas internas, sugeriu fragilidade estrutural, revelou composições inesperadas. Cada pedaço desprendido, cada linha espectral captada, foi uma negação fértil que obrigou a comunidade científica a rever modelos sobre sublimação, resistência térmica e estatística de sobrevivência dos sungrazers. Em vez de espetáculo popular, tivemos revolução conceitual.
É aqui que o Materialismo Histórico-Dialético se mostra mais potente que qualquer epistemologia positivista. O positivismo lamenta: “o cometa falhou em produzir luz suficiente”. A dialética celebra: “o cometa negou nossas hipóteses e nos fez avançar”. ENGELS, ao falar da contradição como motor da natureza, já antevia essa pedagogia: só há progresso quando o real força a teoria a se refazer. MARX, ao dissecar as crises do capital, mostrou o mesmo princípio: o colapso não é fim, mas ponto de partida para nova forma. Assim também no céu: o desmoronamento de G3 foi crise geradora, superação em ato.
O olhar filosófico nos convida a ir além da astronomia descritiva. O cometa fragmentado é uma alegoria da própria ciência: construída em núcleos provisórios, desgastada pela proximidade com o real, obrigada a se romper para revelar novas camadas. A verdade científica não é bloco indestrutível, é processo de autonegação contínua. Cada previsão falha não destrói a ciência, mas a fortalece.
GRAMSCI diria que o fracasso de um cometa visível é também disputa cultural. As manchetes rápidas podem transformá-lo em desapontamento para o público, em espetáculo que não se cumpriu. Cabe à ciência, em sua função hegemônica, traduzir o “fracasso” em pedagogia: mostrar que a beleza não estava em ver um rastro brilhante, mas em compreender a natureza frágil dos blocos primordiais que nos contam sobre a formação do Sistema Solar. O espetáculo, afinal, não é só para os olhos: é para a razão crítica.
O caso de G3 (ATLAS) reafirma a maior das lições: o verdadeiro triunfo da ciência está em sua capacidade de aprender com a contradição, não em evitar o erro. O céu, aqui, é professor dialético.
Carl Sagan e a poética material do cosmos

Em meio à linguagem severa das órbitas e das equações diferenciais, há uma voz que ainda ecoa como música: a de Carl Sagan. Se Marx e Engels nos ensinaram a compreender o mundo em sua materialidade histórica, se Gramsci nos mostrou a batalha das ideias e Althusser nos lembrou das rupturas epistemológicas, Sagan fez algo igualmente revolucionário: mostrou que a ciência pode ser também ternura, poesia e esperança. Ele compreendeu que a astronomia não é só cálculo frio — é a narrativa de quem somos, de onde viemos e de como poderíamos ser melhores.
Sagan soube traduzir a física do cosmos em ética para a Terra. Ao lembrar que “somos feitos de poeira de estrelas”, não usava metáfora, mas constatação científica. E, no entanto, essa frase carregava mais que informação: era a síntese dialética entre objetividade e emoção, entre dados espectroscópicos e imaginação humana. Engels falava da dialética da natureza; Sagan a reencenou para milhões, fazendo da ciência uma pedagogia popular, uma hegemonia cultural capaz de disputar corações e mentes contra o obscurantismo.
O que Sagan nos deu foi uma ciência que não se furta ao espanto. Enquanto alguns tentam reduzir a astronomia a números e curvas, ele insistia na beleza como parte da verdade. Não se tratava de romantizar, mas de compreender que a beleza não é ornamento: é consequência do próprio real. O cometa que ilumina o céu não brilha para ser visto; mas, ao ser visto, nos ensina sobre nós mesmos. O espetáculo natural torna-se espelho da nossa pequenez e da nossa potência.
Aqui, a ponte com o Materialismo Histórico-Dialético é nítida. A ciência, quando reduzida a positivismo, morre em sua própria arrogância. Mas quando aceita o inesperado, o contraditório, o frágil e o poético, se torna emancipação. Marx dizia que o objetivo não é apenas interpretar o mundo, mas transformá-lo. Sagan aplicou esse princípio à cultura científica: não basta entender o cosmos, é preciso transformar o modo como o povo o percebe, romper com o senso comum alienado e substituí-lo por uma consciência cósmica.
Sagan, portanto, é herói da ciência e da astrofísica não por ter descoberto novos mundos, mas por ter feito do cosmos um patrimônio cultural da humanidade. Ele provou que a astronomia não é privilégio de especialistas, mas prática popular, política e poética. Ao lado de Marx, Engels, Gramsci e Althusser, seu nome compõe essa constelação de pensadores que lembram: a ciência, para ser plena, precisa ser também filosofia e beleza.
A astronomia como filosofia material

A história da astronomia não é apenas uma sequência de descobertas técnicas. Ela é, na verdade, um campo de batalha filosófico, uma arena onde se enfrentam concepções de mundo, paradigmas e hegemonias culturais. Cada revolução no olhar para o céu foi também uma revolução na maneira como o ser humano se compreende. Copérnico, Newton, Einstein, Vera Rubin — todos protagonizaram mais que avanços científicos: produziram rupturas históricas no tecido cultural e político da humanidade.
O Materialismo Histórico-Dialético nos ajuda a ler essa trajetória. Se a astronomia nasceu como contemplação metafísica dos astros, sua maturação só foi possível quando a observação se aliou ao cálculo e à crítica das velhas concepções. Copérnico, ao deslocar a Terra do centro do cosmos, não apenas reformou o sistema astronômico: abalou o edifício ideológico da Igreja e inaugurou uma luta por nova hegemonia cultural. Foi um momento de “guerra de manobra”, diria GRAMSCI — ruptura brusca que redistribuiu poder simbólico.
Depois, Newton ergueu a lei da gravitação universal como síntese que unificava os céus e a Terra. Não era mais um cosmos dividido entre “acima” e “abaixo”: tudo obedecia à mesma dialética da atração. Foi a construção de uma nova “trincheira” no senso comum científico. A ciência se tornava parte do projeto de modernidade, de desenvolvimento das forças produtivas, alimentando revoluções políticas e econômicas. A astronomia não era neutra; era fundamento da própria ordem burguesa nascente.
Mas a dialética não para. Einstein, ao reformular tempo e espaço, negou e superou a mecânica newtoniana. A relatividade mostrou que até o tecido do cosmos é contraditório: espaço e tempo não são absolutos, mas se curvam diante da matéria e da energia. Essa negação foi também uma revolução epistemológica, no sentido althusseriano: ruptura com os limites da ciência anterior. E a recepção popular dessas ideias mostrou que até os conceitos mais abstratos da física se tornam matéria de cultura, poesia, política.
No século XX, outra figura rompeu com os paradigmas ocultos: Vera Rubin, ao medir as curvas de rotação galáctica, revelou a presença da matéria escura. Mais uma vez, o cosmos negava nossas certezas. Rubin mostrou que a maior parte do universo não é visível — e que nossa teoria ainda é insuficiente. Aqui, a dialética se manifesta na contradição entre aparência e essência: o que vemos não é o todo; o essencial se esconde, e a ciência precisa cavar mais fundo.
Assim, a astronomia deve ser entendida como filosofia material em prática. Não é apenas coleção de dados, mas movimento histórico em que hipóteses são negadas, superadas e incorporadas em novas sínteses. É uma verdadeira “guerra de posições” no sentido gramsciano: não há vitória definitiva, mas avanços lentos, trincheira por trincheira, contra a ignorância e o obscurantismo. Cada telescópio lançado, cada cometa estudado, cada curva espectral analisada é uma posição conquistada na longa batalha da humanidade para compreender o real.
Por isso, a astronomia é mais do que ciência: é filosofia e política em ato. Ela desnaturaliza o dogma, questiona a ordem aparente, reconfigura nossa relação com o mundo. É, em última instância, prática de emancipação.
Conclusão — Ode à dialética cósmica

A travessia de cometas em 2025 não é mero registro astronômico. É uma metáfora material, uma alegoria viva do modo como a própria realidade se organiza: em movimento, em contradição, em negação e superação. Se o positivismo nos prometeu certezas definitivas, os cometas nos devolvem a dialética: o núcleo que se dissolve para brilhar, o visitante interestelar que recusa os manuais, a previsão que falha para nos ensinar de novo.
ENGELS, em sua Dialética da Natureza, já intuía que a ciência não podia ser compreendida como acúmulo linear de dados, mas como história de saltos e rupturas. MARX nos lembrava que não há verdade fora da história, que o real é processo. GRAMSCI via a batalha cultural como disputa por hegemonia — e os cometas, ao despertarem olhares coletivos, mostram que a ciência também disputa corações e mentes, que cada fenômeno celeste pode ser trincheira contra o obscurantismo. ALTHUSSER falaria aqui de cortes epistemológicos: objetos que rompem a continuidade e obrigam a ciência a se refazer. E Carl Sagan, em sua ternura cósmica, nos ensinou que a ciência é também poesia, que o método pode andar de mãos dadas com o espanto.
Os cometas de 2025 são arquivos do passado e ao mesmo tempo motores de revolução teórica. São conservadores e destruidores, arquivos e fogos de artifício, silêncio milenar e explosão súbita. Eles nos recordam que o cosmos não cabe em fórmulas fixas: exige humildade, exige coragem, exige imaginação. São uma lição de filosofia prática: o real não é estático, é dialético.
Por isso, contemplá-los é mais do que ver luzes no céu. É participar de um processo histórico maior, em que a humanidade aprende com o inesperado. É entender que a ciência não salva o mundo pelo acúmulo de certezas, mas pela capacidade de transformar o erro em caminho, a crise em avanço, a contradição em beleza. É aceitar que o conhecimento é provisório, mas a busca é infinita.
Assim, o céu de 2025 se eleva como manifesto: uma ode à dialética cósmica, à ciência que não teme o imprevisto, à filosofia que encontra poesia no real. Os cometas passam, mas a lição fica: a beleza do universo é que ele nunca confirma nossos dogmas — ele sempre os nega, e dessa negação nos faz mais humanos.


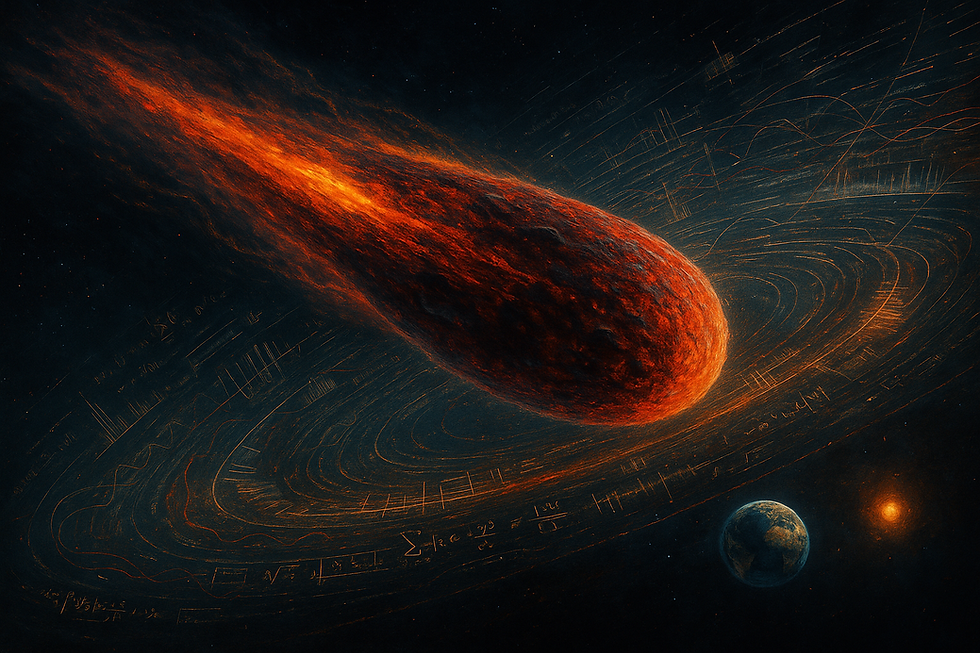

Comentários