A tensão de Hubble e a maravilha da ciência
- Rey Aragon

- 17 de ago. de 2025
- 11 min de leitura

Quando o universo contradiz nossos modelos, a ciência revela sua verdadeira força: a beleza de avançar pelo conflito e pela dúvida
O telescópio James Webb confirmou que o cosmos desafia nossas teorias mais consolidadas. A chamada “Tensão de Hubble” não é um erro de cálculo, mas um choque entre métodos e modelos que expõe as contradições da ciência — e sua grandeza. Mais do que números divergentes, trata-se de um espelho da condição humana diante do infinito, um convite à humildade e à esperança no poder transformador do conhecimento.
O assombro do cosmos e a condição humana

Há momentos na história em que o ser humano é obrigado a olhar para cima e reconhecer a sua pequenez diante do infinito. O céu noturno sempre foi esse espelho cósmico: constelações, nebulosas, buracos negros — tudo o que escapa à medida dos nossos olhos nos devolve a pergunta essencial: o que é o universo, e o que significa estar nele?
A ciência nasceu desse assombro. Não como fuga mística, mas como tentativa materialista de organizar o mundo em leis, relações e processos. Quando a humanidade ergueu telescópios para além da atmosfera, não buscava apenas estrelas distantes, mas uma nova forma de autocompreensão. O cosmos, em toda sua grandiosidade, se tornou também um campo de luta epistemológica, onde o conhecimento não é dado, mas conquistado.
Hoje, em agosto de 2025, vivemos novamente esse instante de vertigem. O telescópio James Webb, ao confirmar a chamada Tensão de Hubble, nos coloca diante de uma contradição que não é mero detalhe técnico: duas formas rigorosas de medir a expansão do universo não convergem. Entre a radiação cósmica de fundo e as pulsações de estrelas distantes, abre-se um abismo de interpretações. Não se trata de erro, mas de conflito. E na ciência — como na história — o conflito é sempre um sinal de movimento.
A maravilha está justamente aqui: a ciência não é uma coleção de verdades imutáveis, mas uma aventura dialética. Seu poder não reside em entregar certezas finais, mas em expor suas próprias falhas, em iluminar o que falta, em transformar cada contradição em possibilidade. O cosmos nos desafia, e esse desafio revela o mais belo da condição humana: sermos capazes de encarar o desconhecido não como sentença, mas como horizonte.
O enigma da expansão — ciência em contradição

Desde Edwin Hubble, sabemos que o universo está em expansão. Essa descoberta, no início do século XX, desafiou a cosmologia clássica e abriu o caminho para a teoria do Big Bang. Porém, o que parecia um consenso consolidado voltou a se fraturar no século XXI. A pergunta já não é se o cosmos se expande, mas a que velocidade ele o faz hoje — e por que nossos melhores métodos não concordam sobre isso.
De um lado, temos as medições do universo primordial: o satélite Planck e outros instrumentos analisaram a radiação cósmica de fundo, fósforo do Big Bang, e derivaram um valor de expansão atual em torno de 67 km/s/Mpc. De outro lado, estão as observações do universo local: estrelas Cefeidas, supernovas tipo Ia e galáxias próximas indicam uma taxa de expansão maior, em torno de 73 km/s/Mpc. Entre os dois métodos há um abismo estatístico que já supera 5 desvios-padrão — um conflito real, não mais um ruído.
Foi aqui que o James Webb Space Telescope entrou como árbitro. Ao observar mais de mil Cefeidas em galáxias-calibradoras, confirmou que os dados do Hubble estavam corretos: não havia erro sistemático relevante. O dilema persiste, e com mais força. Essa contradição ganhou nome próprio — Tensão de Hubble — e tornou-se talvez a questão central da cosmologia contemporânea.
Do ponto de vista do materialismo histórico-dialético, esse impasse não é um fracasso, mas a prova viva de que o conhecimento científico é um processo em movimento, atravessado por contradições que impulsionam sua superação. Não se trata de negar um dos métodos em favor do outro, mas de reconhecer que ambos são válidos dentro de seus domínios e, no entanto, se confrontam em suas extrapolações. O conflito entre “local” e “primordial” revela uma fissura na própria forma como concebemos o cosmos.
Esse é o coração do problema: o universo parece nos dizer duas coisas diferentes sobre si mesmo. E na ciência, quando duas verdades robustas entram em contradição, abre-se o caminho para revoluções teóricas. Estamos diante de uma dessas encruzilhadas históricas, como a que já ocorreu com Copérnico, Newton ou Einstein. O abismo entre 67 e 73 não é só uma questão de números: é um espelho da própria natureza dialética do saber humano.
Ciência como processo histórico — a dialética do saber

A ciência costuma ser apresentada, nos manuais escolares e na retórica oficial, como uma linha de progresso contínuo, quase uma marcha triunfal da razão. Mas a história concreta mostra outra coisa: o avanço científico é feito de saltos, de crises, de rupturas. Ele não se dá pela acumulação suave de fatos, mas pela irrupção de contradições que obrigam a reorganizar o pensamento. É nesse sentido que Engels falava da dialética da natureza: o real se move por oposições, e a ciência não está fora desse movimento — ela é parte dele.
Quando Copérnico deslocou a Terra do centro do universo, não fez apenas uma correção técnica: provocou uma revolução no imaginário, na filosofia, na religião e na política. Quando Newton formulou a gravitação universal, integrou em uma única lei os céus e a Terra, encerrando a dicotomia aristotélica entre o mundo sublunar e o supralunar. E quando Einstein mostrou que o espaço e o tempo são plásticos, que a gravidade curva a própria geometria do cosmos, não apenas ajustou equações: inaugurou uma nova ontologia.
Cada uma dessas revoluções nasceu de uma contradição. Os cálculos não batiam, as órbitas não fechavam, as observações não se encaixavam nas teorias. Foi o choque entre tese e antítese que gerou a síntese — nunca definitiva, sempre provisória, mas capaz de abrir um novo horizonte. É assim que a ciência se move: não pela estabilidade das certezas, mas pela fecundidade das crises.
A Tensão de Hubble inscreve-se nessa tradição. Não é um erro de medição ou uma falha isolada, mas a manifestação de uma contradição profunda entre duas formas de descrever o cosmos. O modelo ΛCDM, até aqui considerado o mais bem-sucedido, encontra seu limite ao confrontar-se com as medições locais. E como toda contradição histórica, essa fissura não significa paralisia, mas potência. Significa que a cosmologia, e com ela a filosofia da natureza, está às portas de um novo salto.
Como lembrava J. D. Bernal, a ciência é uma força produtiva: seu desenvolvimento não é neutro, mas parte das condições materiais de cada época. Telescópios, aceleradores de partículas, computadores — cada instrumento que amplia nossa visão também reconfigura as perguntas que fazemos. Não há ciência fora da história, assim como não há história sem ciência. O que o James Webb nos mostra, ao reafirmar a Tensão de Hubble, é que chegamos a um desses momentos em que a história da ciência e a história da humanidade se cruzam na mesma encruzilhada: ou avançamos para novas sínteses, ou ficamos presos a modelos que já não dão conta do real.
Ontologia em crise — quando o ser do cosmos se transforma

Toda ciência carrega uma ontologia implícita: uma ideia sobre o que é o ser, sobre o que constitui a realidade. O modelo cosmológico padrão, o ΛCDM, sustenta que o universo é regido por leis constantes, que a gravidade de Einstein descreve o tecido espaço-tempo em todas as escalas e que a energia escura pode ser entendida como uma constante cosmológica — um termo simples, elegante e universal. Essa visão produziu resultados brilhantes, mas a Tensão de Hubble agora abre uma rachadura em sua fundação.
Quando duas medições igualmente robustas apontam para realidades incompatíveis, a crise não é apenas epistemológica: é ontológica. O que está em disputa não é somente o valor da constante de Hubble, mas a própria estrutura do cosmos. Talvez a energia escura não seja constante, mas dinâmica, mudando ao longo do tempo. Talvez existam partículas ou campos ainda invisíveis que interferem na evolução do universo. Talvez a gravidade de Einstein, tão bem testada em escalas locais, precise ser revisada em escalas cósmicas. Em todos os casos, estamos diante de um universo mais plástico, mais mutável, mais contraditório do que o modelo vigente supunha.
Aqui, o materialismo histórico-dialético encontra eco na própria ontologia da natureza. Engels dizia que o mundo não é um conjunto de coisas acabadas, mas um tecido de processos em constante transformação. A Tensão de Hubble parece confirmar essa intuição: não lidamos com uma essência fixa, mas com uma realidade que se move, que se contradiz, que exige novas categorias para ser compreendida. O cosmos não é um palco imóvel onde a matéria representa sua peça; ele é o próprio drama em movimento.
Essa crise ontológica tem um peso existencial. Durante séculos, o ser humano buscou no cosmos uma âncora: leis universais, invariantes, sólidas. Quando essa âncora oscila, somos confrontados com a vertigem do indeterminado. Mas, ao contrário do que sugere o medo idealista, essa vertigem é fecunda. Significa que o universo é mais rico do que imaginávamos, que o real excede nossas categorias e nos obriga a recriá-las. É aqui que a dialética se mostra superior a qualquer ontologia estática: ela não vê na contradição uma ameaça, mas a própria condição de possibilidade do conhecimento.
Em última instância, a Tensão de Hubble não é apenas uma questão de medições discrepantes; é um lembrete de que o ser do cosmos não cabe em fórmulas acabadas. A ontologia materialista nos ensina que o real é histórico, contraditório e processual. Se o universo nos desafia, não é porque está errado, mas porque ainda não fomos capazes de pensar sua verdade em toda a sua complexidade.
O método dialético aplicado à cosmologia

O materialismo histórico-dialético nos ensina que a realidade se move pela contradição. Não há progresso sem conflito, não há síntese sem tensão. O caso da Tensão de Hubble é a demonstração mais cristalina desse princípio: duas medições rigorosas, cada uma sustentada por métodos independentes, entram em choque e forçam a ciência a confrontar seus próprios limites.
Se pensarmos dialeticamente:
Tese: o modelo ΛCDM, sustentado pelas medições do universo primordial (CMB e BAO), que oferece elegância matemática e consistência global.
Antítese: as medições do universo local, baseadas em Cefeidas e supernovas, confirmadas agora pelo James Webb, que apontam para um valor de H₀ significativamente maior.
Síntese: um novo paradigma, ainda em gestação, capaz de incorporar ambas as determinações em uma estrutura mais rica — seja uma energia escura dinâmica, um ajuste na gravidade, ou até categorias inéditas da física.
O importante é perceber que a dialética não trata a contradição como um erro a ser eliminado, mas como motor de transformação. A ciência que busca apenas confirmar suas hipóteses repete o dogmatismo; a ciência que enfrenta suas contradições abre caminho para revoluções. Foi assim com Copérnico, Newton, Einstein — e será assim com o que vier depois da Tensão de Hubble.
Mais do que uma disputa de valores de H₀, o que vemos é a luta entre diferentes formas de mediação com o real. A radiação cósmica de fundo é uma janela para o passado profundo; as Cefeidas e supernovas são janelas para o presente cósmico. Cada método ilumina um aspecto do real, mas nenhum o esgota. A contradição não está “no universo”, mas na forma como nossas mediações capturam suas múltiplas determinações. E é nesse atrito que o conhecimento avança.
O método dialético aplicado à cosmologia, portanto, nos liberta de ver a Tensão de Hubble como uma falha e nos convida a reconhecê-la como oportunidade. Ao invés de colapso do paradigma, temos a chance de expandir as fronteiras da teoria. A ciência mostra sua força não quando está confortável em seus consensos, mas quando é obrigada a reinventar-se diante do real.
Implicações sociais, políticas e tecnológicas

Nenhuma ciência existe no vácuo. Cada equação, cada telescópio, cada modelo nasce em condições históricas concretas, dentro de instituições, financiamentos, disputas de poder e de imaginário. A Tensão de Hubble, em toda sua aparência técnica, também é um espelho das contradições sociais que atravessam a produção do saber.
Do ponto de vista tecnológico, a busca por resolver esse enigma exige um salto nas forças produtivas. O James Webb já mostrou que é possível alcançar precisões antes inimagináveis, mas não será suficiente. Novos instrumentos estão a caminho — o Roman Space Telescope, o Extremely Large Telescope no Chile, experimentos de lentes fortes, sirenes-padrão com ondas gravitacionais. Cada passo tecnológico abre também novas aplicações civis: avanços em óptica, sensores, algoritmos de inteligência artificial. Assim como a corrida espacial do século XX nos deu satélites, GPS e comunicações globais, a corrida para decifrar a Tensão de Hubble pode gerar inovações que transformarão o cotidiano humano.
No plano social, o impacto é ambivalente. Para muitos, a contradição reforça a confiança na ciência como campo de autocrítica: uma prática que não esconde suas falhas, mas as expõe, as discute e as transforma em motor de avanço. Ao mesmo tempo, em um mundo marcado pela desinformação, a notícia de que “nem os cientistas sabem como o universo funciona” pode ser instrumentalizada por discursos negacionistas. Essa disputa narrativa é central: a maneira como comunicamos a crise científica pode fortalecer ou fragilizar o vínculo social com o conhecimento.
E no plano político, a questão é ainda mais profunda. Quem controla os telescópios? Quem define as agendas de pesquisa? Quem detém os bancos de dados astronômicos? A Big Science é também geopolítica: envolve orçamentos bilionários, parcerias internacionais, disputas entre potências. O cosmos, nesse sentido, não é apenas um objeto de contemplação, mas um território simbólico e estratégico. A luta pela interpretação do universo é, também, a luta pela soberania cognitiva da humanidade.
A Tensão de Hubble mostra, assim, que a ciência não é neutra: ela é parte da luta de classes e das contradições do capitalismo global. Enquanto corporações e governos competem pelo monopólio da informação, a comunidade científica internacional revela, com seus dilemas, que o verdadeiro poder está não na certeza, mas na coragem de enfrentar o desconhecido coletivamente.
Existência, maravilha e humildade

Desde que ergueu os olhos para o céu, a humanidade projeta no cosmos o reflexo de suas inquietações mais profundas. Cada descoberta científica é também uma ferida no orgulho humano e, ao mesmo tempo, um sopro de maravilha. A Tensão de Hubble é mais um desses instantes em que o universo nos lembra que não estamos no controle. E é justamente nessa perda de controle que reside a beleza.
A contradição entre as medições da expansão cósmica não deve ser lida como sinal de fraqueza da ciência, mas como prova de sua vitalidade. A ciência é forte não porque tem respostas finais, mas porque é capaz de conviver com a dúvida, de reconhecer seus próprios limites e de transformar o erro em método. Essa humildade diante do desconhecido é a maior conquista da razão humana.
Existencialmente, o impacto é imenso. Durante séculos, buscamos no universo leis imutáveis que servissem de âncora para a nossa finitude. Agora, descobrimos que nem mesmo essas leis são estáveis, que o cosmos pode ser mais plástico, mais contraditório, mais imprevisível do que imaginávamos. O abismo que se abre entre 67 e 73 km/s/Mpc é também um abismo dentro de nós: revela o quanto somos feitos de incertezas, de lacunas, de perguntas que nunca se fecham.
Mas esse abismo não é desespero: é esperança. É nele que reside o sublime materialista — não um mistério místico, mas a grandeza do real que nos excede e, por isso mesmo, nos convoca a continuar pensando, experimentando, lutando. A maravilha da ciência está em que, diante do infinito, ela não se ajoelha, mas se ergue. Ela não promete certezas, promete movimento. Não oferece consolo, oferece horizonte.
Em tempos de cinismo e desinformação, esse é talvez o gesto mais revolucionário: devolver ao ser humano a capacidade de assombrar-se. Reconhecer que não sabemos tudo, que as respostas não estão prontas, que o universo ainda guarda segredos — e que isso é motivo de alegria, não de medo. A humildade científica é a forma mais elevada de grandeza.
Conclusão — A beleza da contradição

A Tensão de Hubble não é apenas uma disputa entre números; é uma metáfora viva da própria condição humana diante do infinito. Um universo que se expande em velocidades contraditórias nos ensina que a realidade não cabe em molduras estáticas, que o conhecimento não é linha reta, mas espiral. A contradição, longe de ser uma falha, é a força motriz que arrasta a ciência — e a história — para frente.
Engels já dizia que a natureza é dialética: feita de rupturas, saltos, negações. O cosmos, ao recusar a conciliação fácil entre o “local” e o “primordial”, confirma essa intuição. Não estamos diante de um erro a ser apagado, mas de um sinal histórico de que uma nova síntese se anuncia. O que hoje chamamos de Tensão de Hubble pode ser, amanhã, o estopim de uma revolução científica comparável à de Copérnico, Newton ou Einstein.
Mas há algo ainda mais profundo. Esse impasse cósmico devolve ao ser humano uma lição de humildade. Não somos senhores das leis imutáveis, mas aprendizes diante de um real que se reinventa. A grandeza da ciência não está em domesticar o universo, mas em reconhecê-lo como processo, como contradição em movimento, como horizonte sempre aberto.
E é exatamente aqui que ciência e filosofia se encontram: a maravilha não é um consolo, é um chamado. O chamado para continuar construindo instrumentos, teorias, hipóteses; para enfrentar o desconhecido sem medo; para compreender que o sublime não está na resposta final, mas no caminho — no drama humano de buscar sentido em meio ao infinito.
A Tensão de Hubble nos lembra que o universo é maior do que nossas fórmulas e, por isso mesmo, mais belo. É a beleza da contradição: aquela que nos inquieta, que nos desafia, que nos move. A ciência é isso — um gesto humano de se levantar diante do abismo e, com as mãos trêmulas mas firmes, arrancar da noite cósmica uma centelha de compreensão.
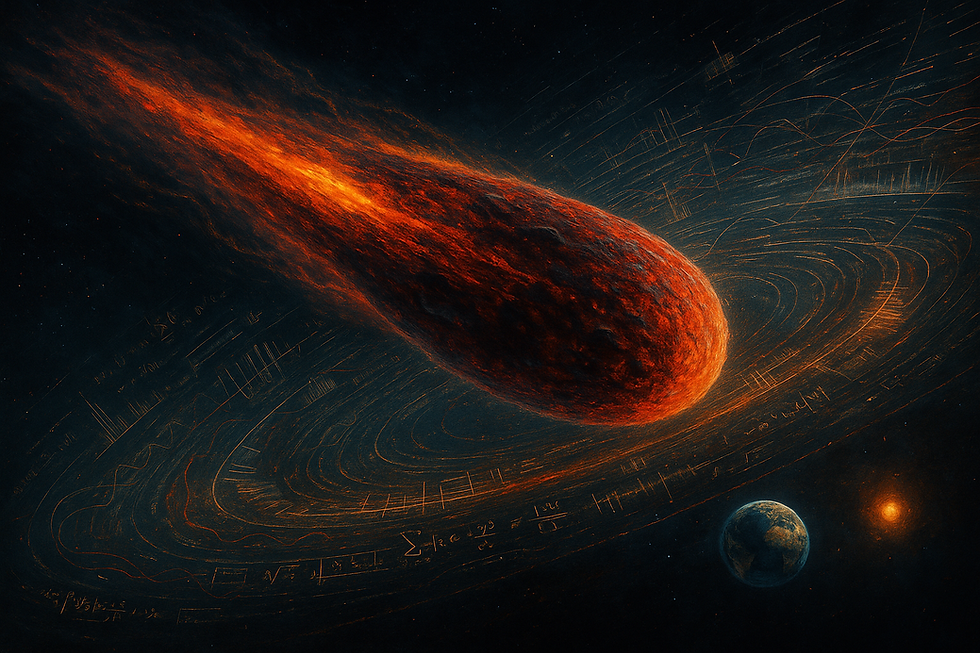



Comentários