A técnica em disputa
- Rey Aragon

- 2 de ago. de 2025
- 19 min de leitura
Atualizado: 4 de ago. de 2025

Automação, inteligência artificial e a luta pela soberania popular
Inteligência artificial, soberania tecnológica e o campo de batalha invisível: por que a Ddsputa pelo controle da automação é a guerra de Ccasses do século XXI
Você está preparado para um futuro onde as máquinas fazem tudo e você fica com nada? A automação e a inteligência artificial estão moldando a sociedade de amanhã — mas a questão central não é “se” elas vão destruir empregos, e sim quem vai controlar os frutos dessa tecnologia. Este ensaio é um chamado à luta: não contra a tecnologia, mas pela sua apropriação social, soberana e justa. Descubra como a técnica pode ser a chave da sua libertação — ou da sua servidão — e por que essa batalha começa agora
Introdução

Vivemos em uma era em que a automação e a inteligência artificial (IA) não são mais promessas distantes ou abstrações teóricas. Elas estão no centro de nossas vidas, organizando fluxos de produção, modelando comportamentos, estruturando relações sociais e até moldando percepções políticas. Nunca antes a humanidade deteve um potencial tão extraordinário de libertação das tarefas penosas, da repetição, do trabalho alienado. Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão próximos de um modelo de sociedade onde o trabalho humano se torna descartável, substituível, supérfluo aos olhos do capital.
O debate contemporâneo sobre tecnologia está intoxicado por uma polarização rasteira: de um lado, os tecnofílicos acríticos, que veem na IA e na automação o caminho inevitável do “progresso”; do outro, os tecnofóbicos, que enxergam nelas a origem de todos os males contemporâneos. Ambos os campos ignoram o essencial: a tecnologia não é neutra, mas tampouco é intrinsecamente boa ou má. Ela é um campo de disputa. Um território onde a luta de classes se reorganiza no século XXI.
A verdadeira questão não é se a automação tirará empregos ou se a IA substituirá profissionais. A questão é: a quem servem essas tecnologias? Quem controla seus meios de produção? Quem define seus propósitos? E, sobretudo, quem se apropria do valor que elas geram?
A técnica, enquanto força produtiva, carrega em si um potencial libertador imenso: pode reduzir drasticamente a jornada de trabalho, liberar os seres humanos para o cultivo da ciência, da arte, da convivência comunitária, do ócio criativo e da vida digna. Mas no regime capitalista, a técnica não se desenvolve com o objetivo de emancipar. Ela é desenvolvida para ampliar margens de lucro, controlar fluxos de trabalho, precarizar relações laborais e concentrar ainda mais poder nas mãos de uma elite financeira e tecnológica.
Aqui reside a contradição histórica que este ensaio pretende explorar: a automação e a inteligência artificial não são, por si, instrumentos de dominação. Elas são instrumentos. A luta decisiva do nosso tempo é pela apropriação coletiva desses instrumentos.
Não se trata de rejeitar a técnica, mas de disputar seu sentido. De arrancá-la das mãos do capital e colocá-la a serviço da sociedade. De transformar redes privadas de exploração em infraestruturas públicas de bem-estar social. De converter algoritmos que vigiam e controlam em algoritmos que libertam e servem ao interesse comum.
Ao longo deste ensaio, mostraremos que o futuro da automação e da IA não está escrito. Ele será decidido nas ruas, nas instituições, nas lutas populares e nas trincheiras digitais. Vamos apresentar exemplos concretos de como políticas públicas podem transformar a técnica em aliada da justiça social, da redistribuição de renda e da ampliação do tempo livre. Vamos propor caminhos para uma soberania tecnológica real, baseada na apropriação social dos dados, dos algoritmos, das infraestruturas e das formas de produção digital.
Este texto é um chamado à luta: a luta pela técnica, pela infraestrutura, pela soberania. Uma luta de classes que não se faz mais apenas nas fábricas, mas nos códigos, nos satélites, nos cabos de fibra ótica e nos servidores.
A técnica não libertará ninguém se não for arrancada das mãos do capital.
Mas nas mãos do povo, ela pode ser a chave da emancipação.
A automação como contradição: potencial libertador ou instrumento de exploração

A automação sempre carregou uma promessa ambígua. Desde a Revolução Industrial, as máquinas foram vistas como ferramentas capazes de libertar a humanidade das tarefas penosas, repetitivas e degradantes. Marx, nos seus Fragmentos sobre as Máquinas, já antevia que o desenvolvimento das forças produtivas, se colocado a serviço da sociedade, poderia reduzir drasticamente a jornada de trabalho e permitir que os seres humanos se dedicassem à ciência, à arte, ao convívio e à verdadeira riqueza: o tempo livre. No entanto, Marx também advertia que, enquanto os meios de produção permanecerem sob controle privado, cada avanço técnico servirá prioritariamente à ampliação da mais-valia, e não à emancipação do trabalhador. A história do capitalismo é, em grande medida, a história dessa contradição.
Hoje, com a ascensão das tecnologias digitais, da automação avançada e da inteligência artificial, essa tensão atinge uma escala sem precedentes. As máquinas já não substituem apenas músculos, mas cérebros. Inteligências artificiais generativas, algoritmos de automação de processos, robótica autônoma: todas essas inovações ampliam a capacidade de produção e gestão com cada vez menos intervenção humana. Mas ao invés de representarem uma oportunidade histórica de libertar a humanidade do trabalho alienado, essas tecnologias têm sido apropriadas pelo capital para aprofundar a precarização, reduzir custos trabalhistas e ampliar a concentração de riqueza.
O discurso da “inevitabilidade tecnológica”, amplamente difundido nos meios de comunicação corporativos e nos círculos tecnocráticos, é uma falácia. A automação não elimina empregos por uma lógica neutra ou natural; ela desloca empregos de acordo com interesses estruturais. No regime atual, esse deslocamento é arquitetado para maximizar margens de lucro, intensificar o controle social e fragilizar os direitos trabalhistas. O exemplo mais claro é a gig economy, onde a automação parcial, combinada à vigilância algorítmica, transforma trabalhadores em peças descartáveis de um sistema hipervigilante e hiperexplorador.
A contradição central, no entanto, permanece: a automação, por si, não é boa nem má. O que define seu caráter social e político é a estrutura de propriedade que a controla. A mesma máquina que hoje expulsa trabalhadores do chão de fábrica poderia ser utilizada para reduzir a jornada de todos, mantendo salários e elevando a qualidade de vida. A mesma inteligência artificial que precariza profissões criativas poderia ser mobilizada para democratizar o acesso à educação, à cultura, à saúde e à informação.
Ou seja, a automação carrega em si um potencial libertador imenso, mas que só será realizado se rompermos com a lógica de que a técnica deve servir ao lucro privado. O desafio histórico que enfrentamos é o de apropriar-nos desse potencial e reorientar seu desenvolvimento para o bem comum. Isso exige políticas públicas robustas, que garantam a redistribuição dos ganhos de produtividade, a redução real da jornada de trabalho com manutenção de salários e direitos, a democratização do acesso às tecnologias e o controle público e popular sobre os dados, os algoritmos e as infraestruturas que organizam a vida digital.
A questão, portanto, não é lutar contra a automação, mas lutar pela apropriação do seu potencial. A técnica será nossa aliada apenas quando for arrancada das mãos do capital e colocada a serviço das necessidades coletivas. A automação será o motor da libertação humana ou a engrenagem definitiva da dominação capitalista. O destino não está escrito. Ele será decidido na luta. E essa luta é política, social e estrutural. Nos próximos tópicos, apresentaremos exemplos concretos de como essa apropriação é possível. Políticas públicas, infraestruturas soberanas e iniciativas populares que transformam a automação de uma ameaça à condição humana em uma ferramenta de emancipação. O futuro está em disputa. E a automação é o campo de batalha dessa disputa.
Como apropriar-se da técnica: exemplos de políticas públicas transformadoras

A disputa pela técnica não é uma abstração teórica. Ela se traduz em escolhas concretas, em políticas públicas, em decisões institucionais e em projetos de sociedade. A automação e a inteligência artificial não precisam ser instrumentos de concentração de riqueza e poder. Elas podem e devem ser apropriadas pela sociedade e reorientadas como ferramentas de emancipação coletiva. Mas isso só será possível se forem acompanhadas de um projeto político claro, que combine soberania tecnológica, justiça social e redistribuição de renda.
O primeiro passo para essa apropriação passa pela construção de uma infraestrutura tecnológica soberana. Não há emancipação possível enquanto as infraestruturas digitais — satélites, cabos de fibra ótica, data centers, nuvens de armazenamento — estiverem sob controle de corporações privadas ou potências estrangeiras. É imperativo que Estados comprometidos com o interesse público desenvolvam suas próprias infraestruturas de conectividade e armazenamento de dados, assegurando que as informações estratégicas de seus povos não sejam transformadas em mercadorias a serviço do mercado global. Iniciativas como o Programa BELLA, que integra a América Latina através de redes de fibra ótica independentes, e o projeto da Nuvem Soberana Francesa, são exemplos de caminhos concretos para a construção dessa autonomia digital.
O segundo eixo dessa apropriação é a redistribuição dos lucros da automação. Se a produtividade aumenta graças à tecnologia, os benefícios dessa produtividade devem ser distribuídos socialmente, e não apropriados exclusivamente pelos acionistas das grandes corporações. É preciso instituir políticas de dividendos sociais, financiadas por tributos progressivos sobre lucros automatizados e sobre o capital tecnológico. Esses recursos devem alimentar fundos públicos destinados a financiar a saúde, a educação, a cultura e a infraestrutura. Experiências como as propostas de dividendos sociais em países nórdicos e os projetos de renda básica financiados por fundos soberanos demonstram que essa redistribuição não é uma utopia distante, mas uma possibilidade real, desde que haja vontade política para confrontar os interesses dos grandes conglomerados econômicos.
Outra dimensão fundamental da apropriação da técnica é o incentivo ao desenvolvimento de software livre e de cooperativas de plataforma. O monopólio das grandes plataformas digitais é um dos principais mecanismos de extração de valor no capitalismo digital. Ao fomentar o desenvolvimento de aplicativos, sistemas e redes sociais baseados em software livre, sob controle de cooperativas ou comunidades, é possível criar ecossistemas tecnológicos orientados pelas necessidades sociais, e não pela lógica de maximização de lucros. Iniciativas como a Fairbnb, na Europa, que oferece uma alternativa cooperativa ao Airbnb, e a cooperativa brasileira EITA, que desenvolve tecnologias para movimentos sociais e organizações populares, são exemplos concretos de como é possível construir alternativas tecnológicas baseadas em princípios de solidariedade, autogestão e justiça social.
O controle democrático dos dados e dos algoritmos também é um pilar central desse processo. Em um mundo onde as decisões políticas, econômicas e sociais são cada vez mais mediadas por sistemas algorítmicos, é imprescindível que esses sistemas sejam transparentes, auditáveis e subordinados ao controle popular. Conselhos populares de dados, auditorias públicas de algoritmos e leis de transparência algorítmica são ferramentas fundamentais para evitar que os sistemas de decisão automatizados reproduzam e ampliem as desigualdades e discriminações estruturais. Projetos como o Data Commons, em Barcelona, e as iniciativas de transparência algorítmica no Canadá mostram que é possível democratizar o controle das tecnologias que organizam a vida social.
A automação deve ser acompanhada por políticas concretas de redução da jornada de trabalho, com manutenção dos salários e ampliação do tempo livre. Os ganhos de produtividade proporcionados pela tecnologia não devem servir para enriquecer uma minoria, mas para melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade. Experiências em países como Islândia, Espanha e empresas na Nova Zelândia, que implementaram semanas de trabalho de quatro dias, demonstram que a redução da jornada é viável e benéfica tanto para trabalhadores quanto para a produtividade.
Por fim, nenhuma apropriação da técnica será possível sem uma profunda transformação educacional. É necessário democratizar o acesso ao conhecimento tecnológico, garantindo que desde a escola básica as crianças tenham acesso a uma formação crítica em tecnologia, dados e algoritmos. Programas de educação midiática, formação de cidadãos programadores e laboratórios populares de tecnologia — como os fablabs comunitários ou as escolas de software livre de Cuba — são caminhos concretos para garantir que a população não seja apenas usuária passiva das tecnologias, mas agente ativa na sua construção e controle.
Esses são apenas alguns exemplos de como políticas públicas e iniciativas populares podem transformar a automação e a inteligência artificial em ferramentas de justiça social, redistribuição de renda e soberania popular. A luta pela técnica é a luta pelo futuro. E ela será decidida em políticas concretas, no campo das decisões públicas, onde as contradições entre capital e trabalho, entre dominação e emancipação, se manifestam de forma cada vez mais explícita.
A redução da jornada de trabalho e a expansão do tempo livre
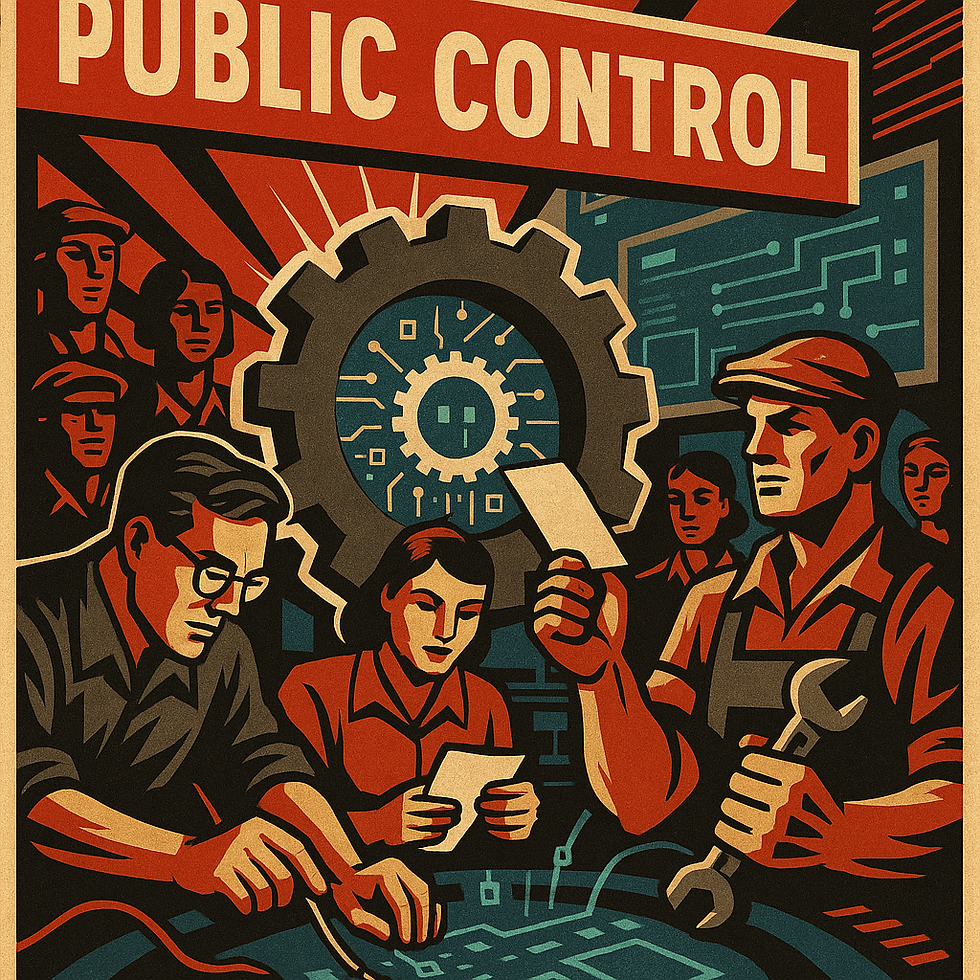
Se a automação e a inteligência artificial têm um potencial libertador real, é na possibilidade de reduzir o tempo de trabalho humano que esse potencial se revela de maneira mais concreta e imediata. A essência da luta por uma sociedade emancipada passa, inevitavelmente, pela reapropriação do tempo. O tempo que, sob o regime capitalista, é sequestrado pelos interesses da acumulação, deve ser devolvido à sociedade. E essa devolução só ocorrerá quando os ganhos de produtividade gerados pela automação forem convertidos em redução da jornada de trabalho, com manutenção dos salários e ampliação da qualidade de vida.
Historicamente, cada avanço tecnológico deveria representar um alívio na carga de trabalho humano. As máquinas foram criadas para substituir o esforço físico e mental, para liberar o ser humano das tarefas repetitivas e penosas. No entanto, sob a lógica do capital, a automação tem servido ao propósito inverso: intensificar o ritmo de trabalho, aumentar a exploração, precarizar relações laborais e ampliar a desigualdade. A produtividade cresce, mas os frutos desse crescimento são apropriados por uma minoria, enquanto a maioria continua refém de jornadas extenuantes, empregos precários e insegurança permanente.
Essa contradição, no entanto, não é uma fatalidade. Ela é o resultado de uma correlação de forças. E a história está repleta de momentos em que a classe trabalhadora, através da luta organizada, conseguiu conquistar a redução da jornada como um direito inalienável. A jornada de oito horas diárias, que hoje muitos consideram “natural”, foi fruto de intensas batalhas, greves e mobilizações, e não uma concessão benevolente do capital.
Hoje, com o avanço da automação, é possível e necessário reabrir essa disputa. Experiências recentes demonstram que a redução da jornada de trabalho é perfeitamente viável, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Na Islândia, projetos-piloto de semanas de quatro dias mostraram que a produtividade se manteve estável ou até aumentou, enquanto os trabalhadores relataram melhorias significativas na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida. Na Espanha, empresas que implementaram a semana de quatro dias observaram um aumento da eficiência e da satisfação dos funcionários. Na Nova Zelândia, experiências semelhantes indicaram que trabalhadores mais descansados e com mais tempo livre são também mais criativos, produtivos e comprometidos.
Esses exemplos evidenciam que a redução da jornada não é um luxo utópico, mas uma possibilidade real, desde que os ganhos de produtividade sejam distribuídos de forma equitativa. No entanto, essa transição não ocorrerá de forma espontânea. Ela exige políticas públicas robustas, que garantam mecanismos de redistribuição de renda, proteção dos direitos trabalhistas e incentivo à reorganização do tempo social. A redução da jornada de trabalho não pode ser tratada como uma concessão do mercado, mas como um direito da sociedade, como uma política de Estado que visa à emancipação humana.
O tempo livre, longe de ser um “vazio” improdutivo, é a verdadeira base de uma sociedade emancipada. É no tempo livre que os indivíduos podem desenvolver plenamente suas potencialidades criativas, intelectuais, afetivas e comunitárias. É no tempo livre que se constrói a cidadania plena, a participação política consciente, a cultura, a ciência, o cuidado coletivo. Uma sociedade onde a maioria trabalha em jornadas exaustivas, com pouco ou nenhum tempo para si, é uma sociedade condenada à alienação, ao conformismo e à reprodução das desigualdades.
Portanto, a luta pela redução da jornada de trabalho é, na essência, uma luta pela reconquista do tempo. E a automação, longe de ser uma ameaça a essa conquista, deve ser entendida como a ferramenta que pode torná-la possível em uma escala inédita. Mas isso só ocorrerá se a sociedade se apropriar dessa tecnologia, se rompermos com a lógica da acumulação privada e reorientarmos o desenvolvimento técnico para o bem comum.
A redistribuição do tempo social é uma condição fundamental para que os benefícios da automação sejam coletivos e justos. A técnica, quando controlada pelo capital, acelera o ciclo da exploração. Mas, quando colocada a serviço da sociedade, ela pode ser a chave para um novo contrato social, onde o trabalho deixa de ser um fardo e passa a ser uma escolha consciente, digna e libertadora.
Nos próximos tópicos, vamos aprofundar como a educação tecnológica e a soberania informacional são peças estratégicas para garantir que essa reconquista do tempo, da técnica e da infraestrutura seja viável, concreta e irreversível.
Educação tecnológica para a soberania cognitiva

Nenhuma apropriação real da técnica será possível sem a conquista da soberania cognitiva. E soberania cognitiva, na era da automação e da inteligência artificial, significa muito mais do que acesso à informação. Significa a capacidade coletiva de entender, interpretar, modificar e controlar as tecnologias que organizam a vida social. Sem essa capacidade, a sociedade permanece refém de uma elite técnica e financeira que domina os códigos, os dados, os algoritmos e, por extensão, as estruturas mais profundas da realidade contemporânea.
O atual modelo de educação tecnológica é, em sua essência, reprodutor de dependências. Forma usuários, e não criadores. Ensina a operar interfaces, mas não a compreender as lógicas ocultas que regem as plataformas, os sistemas e as infraestruturas digitais. Essa alienação tecnológica não é um acidente. Ela é funcional à lógica do capital, que se alimenta da ignorância coletiva para manter seu controle sobre os meios de produção digital.
Por isso, a construção de um projeto de soberania tecnológica exige uma profunda transformação educacional, que vá muito além da inclusão digital superficial. É necessário um programa de formação crítica, desde a educação básica, que capacite as novas gerações a compreender a técnica como um campo de disputa política, econômica e cultural. Não basta aprender a usar aplicativos. É preciso aprender a programar, a auditar algoritmos, a compreender a estrutura das redes, a desenvolver tecnologias a partir das necessidades reais da sociedade.
Experiências concretas já demonstram que esse caminho é possível. Em Cuba, por exemplo, o ensino de software livre nas escolas é uma política pública consolidada, que busca garantir a autonomia tecnológica do país desde as bases. A construção de laboratórios populares de tecnologia, os chamados fablabs comunitários, espalhados em várias partes do mundo, representa outra frente importante. Esses espaços, ao disponibilizar ferramentas, conhecimentos e processos de fabricação digital para a população, criam ecossistemas de inovação social que fogem à lógica da propriedade privada e do monopólio das big techs.
Além disso, é fundamental incorporar ao currículo educacional disciplinas voltadas à educação midiática crítica, que capacitem os cidadãos a reconhecerem as estruturas de poder que operam na produção, circulação e consumo da informação digital. Alfabetizar-se digitalmente, hoje, é muito mais do que aprender a “navegar” na internet. É desenvolver uma consciência ativa sobre os fluxos de dados, as dinâmicas algorítmicas e os interesses econômicos que moldam o ambiente informacional.
Mas a soberania cognitiva não será alcançada apenas através da educação formal. É necessário que os Estados e as comunidades desenvolvam ecossistemas próprios de inovação tecnológica, com base em software livre, hardware aberto e dados públicos acessíveis. A formação de redes de pesquisa, desenvolvimento e produção tecnológica orientadas por princípios de interesse social, e não pela lógica do lucro, é um elemento indispensável para quebrar a dependência tecnológica em relação às corporações globais.
Somente uma sociedade que compreende a técnica em sua complexidade, que domina os processos de criação, modificação e controle das tecnologias, será capaz de apropriar-se da automação e da inteligência artificial como ferramentas de emancipação. A soberania cognitiva é a base da soberania tecnológica. E sem soberania tecnológica, não há soberania política, econômica ou cultural possível.
Nos próximos tópicos, vamos aprofundar a importância da soberania informacional e das infraestruturas públicas de dados como pilares para enfrentar a guerra híbrida digital e garantir que o futuro da automação não seja decidido pelas big techs, mas pela sociedade.
Soberania informacional e a guerra híbrida digital

A disputa pela técnica no século XXI não se dá apenas no campo da produção material, mas sobretudo no domínio da informação. Em um mundo cada vez mais mediado por plataformas digitais, algoritmos e fluxos de dados, a soberania informacional tornou-se a nova fronteira das lutas políticas e econômicas. Nenhuma nação será verdadeiramente soberana se não controlar os fluxos de informação que circulam em seu território, se não dominar as infraestruturas digitais que sustentam sua economia, sua cultura, sua democracia.
A guerra híbrida, conceito que ganhou centralidade nos últimos anos, é a expressão mais clara dessa nova dinâmica de poder. Trata-se de um modelo de conflito que não se limita ao campo militar convencional, mas que opera nas esferas informacional, cibernética, econômica e cognitiva. Nesse cenário, as plataformas digitais — controladas por um punhado de corporações globais — tornaram-se instrumentos de desestabilização política, manipulação de opinião pública, interferência em processos democráticos e imposição de agendas econômicas e culturais alheias aos interesses das sociedades nacionais.
O Brasil, como laboratório avançado dessas estratégias, conhece bem os efeitos dessa guerra híbrida. A manipulação algorítmica das redes sociais, a disseminação industrial de desinformação, o uso de dados pessoais como armas de controle comportamental, tudo isso faz parte de uma engrenagem de dominação que transcende as fronteiras nacionais e coloca as sociedades periféricas em uma posição de extrema vulnerabilidade. A soberania informacional, portanto, não é uma abstração teórica: é uma questão de sobrevivência política, econômica e cultural.
Garantir essa soberania exige a construção de infraestruturas públicas de dados, redes de comunicação autônomas, satélites nacionais e plataformas digitais sob controle social. Não é possível enfrentar as big techs apenas com discursos ou legislações tímidas. É necessário criar alternativas reais, robustas, que permitam às sociedades controlar seus próprios fluxos de informação, proteger seus dados estratégicos e garantir a integridade de seus processos democráticos.
Iniciativas como a Nuvem Soberana Francesa e os projetos de redes comunitárias de internet na América Latina mostram que é possível construir infraestruturas digitais independentes, orientadas pelo interesse público. A União Europeia, com suas legislações mais avançadas (como o Digital Markets Act e o Digital Services Act), tem buscado impor limites ao poder das plataformas globais, embora ainda de forma insuficiente. No Brasil, o debate sobre a regulação das plataformas digitais avança, mas esbarra em lobbies poderosos e na ausência de uma estratégia nacional de soberania informacional.
A construção dessa soberania não se dará sem conflitos. A guerra híbrida é, em essência, uma disputa pelo controle das mentes, das narrativas e das infraestruturas que sustentam a vida digital. As big techs não cederão espaço voluntariamente. E os interesses geopolíticos das potências hegemônicas não aceitarão a autonomia informacional dos países do Sul Global sem resistência.
Por isso, é fundamental que a luta pela soberania informacional esteja integrada a um projeto mais amplo de apropriação da técnica e de emancipação social. A regulação das plataformas, a criação de infraestruturas públicas, o desenvolvimento de ecossistemas de software livre, a educação tecnológica crítica e a redistribuição dos ganhos da automação são partes indissociáveis de uma estratégia de enfrentamento à guerra híbrida.
Não se trata de um embate meramente técnico. Trata-se de uma disputa de poder, onde o controle sobre a informação, os dados e as redes digitais define quem terá capacidade de autodeterminação e quem será reduzido à condição de colônia digital. A soberania informacional é a base sobre a qual se erguerá — ou ruirá — a possibilidade de uma sociedade verdadeiramente democrática e justa na era da automação.
Nos próximos tópicos, vamos consolidar essa visão, demonstrando como a apropriação da técnica, a soberania digital e a redistribuição do tempo e da riqueza formam os pilares de um projeto socialista para o século XXI, capaz de transformar a automação em ferramenta de emancipação e não de dominação.
A técnica como território da luta de classes: um projeto socialista para o século XXI

A disputa pela técnica é, em sua essência, uma disputa de classes. No século XXI, a luta entre capital e trabalho não se limita mais ao chão da fábrica, ao campo ou aos escritórios. Ela se deslocou para territórios digitais, para os fluxos de dados, para as redes de comunicação, para os algoritmos que moldam as relações sociais e a economia. Quem controla a técnica, hoje, controla a produção, a informação, a subjetividade e, em última instância, o futuro.
O projeto socialista do século XXI deve partir dessa constatação estratégica. Não se trata de rejeitar a tecnologia ou de demonizar a automação, mas de compreendê-las como forças produtivas poderosas que, em mãos erradas, servem à exploração, mas que, sob controle social, podem se tornar instrumentos de libertação. A luta não é contra a técnica. É pela técnica. Pela sua apropriação coletiva, pela sua reorientação a partir das necessidades sociais, pela sua integração em um projeto de emancipação humana.
A automação tem potencial para liberar os seres humanos do trabalho alienado, da exaustão, da precarização. Mas esse potencial só se realizará se os frutos da produtividade forem redistribuídos de forma justa. Isso exige políticas concretas de redução da jornada de trabalho, de redistribuição de renda, de democratização do acesso às tecnologias. Exige também que os meios de produção digital — os dados, os algoritmos, as infraestruturas — sejam colocados sob controle público e popular.
A técnica, portanto, é território da luta de classes. As big techs, com seu poder de vigilância, seu monopólio das plataformas e sua capacidade de moldar a opinião pública, são hoje uma forma de capital tão ou mais poderosa do que o capital financeiro ou industrial. E enfrentá-las exige uma estratégia política clara, que combine regulação, construção de alternativas públicas, formação de uma cultura tecnológica crítica e organização popular.
Esse projeto não é uma utopia distante. Ele já se materializa em experiências concretas: nas cooperativas de plataforma que desafiam a lógica do mercado; nos laboratórios populares de tecnologia que formam cidadãos criadores e não apenas consumidores; nas legislações que tentam impor transparência e limites ao poder das corporações digitais; nas redes de solidariedade que constroem infraestruturas comunitárias de comunicação e dados.
Mas para que essas experiências deixem de ser exceções e se tornem a regra de uma nova sociedade, é necessário um salto político. Um projeto de soberania tecnológica e informacional que não seja fragmentado, mas parte de uma estratégia de transformação social profunda. Um projeto socialista que compreenda que a disputa pela técnica é a disputa pelo futuro.
Tomar a técnica em nossas mãos significa retomar o controle sobre o tempo, sobre a riqueza, sobre a vida. Significa transformar a automação de uma engrenagem de exploração em uma ferramenta de libertação. Significa construir uma sociedade onde o trabalho não seja um fardo, mas uma escolha. Onde a informação não seja mercadoria, mas um direito. Onde a técnica não seja privilégio, mas um bem comum.
O futuro será automatizado. A questão é: ele será automatizado para quem? Para perpetuar a lógica da exploração ou para inaugurar uma nova era de justiça social e emancipação humana? Essa decisão não será tomada pelas máquinas. Ela será tomada nas ruas, nas assembleias, nas redes, nas trincheiras da luta de classes.
A técnica é o novo campo de batalha. E nós, trabalhadores, movimentos sociais, intelectuais, devemos ser os estrategistas dessa luta. A automação e a inteligência artificial não nos destruirão se soubermos transformá-las em armas da nossa libertação.
Nos próximos capítulos, consolidaremos essa visão apresentando caminhos estratégicos, propostas de políticas públicas e iniciativas de mobilização popular que podem transformar esse projeto em realidade. O futuro está em disputa. E ele pertence a quem estiver disposto a lutar por ele.
Conclusão

Chegamos ao ponto decisivo. A automação e a inteligência artificial não são inimigas em si. Não são demônios que pairam sobre a humanidade, ameaçando empregos, culturas e modos de vida por uma suposta “lógica autônoma do progresso”. Isso é uma falácia construída para esconder a verdade mais simples e brutal: a tecnologia é uma força produtiva. E como toda força produtiva, ela é politicamente moldada por quem detém os meios de produção e decide a quem servirá o seu valor gerado.
Hoje, no capitalismo digital, as máquinas, os dados, os algoritmos e as plataformas são apropriados por uma elite financeira e tecnológica que transforma cada avanço técnico em um mecanismo de extração de mais-valia, precarização do trabalho e concentração de riqueza. A automação não está reduzindo a jornada de trabalho; está eliminando empregos sem redistribuir os frutos da produtividade. A inteligência artificial não está democratizando o conhecimento; está aprofundando a vigilância, o controle e o poder de monopólios informacionais.
Mas essa não é uma sentença histórica. É uma decisão política. A técnica, em si, não carrega um destino fechado. Ela é um campo de disputa. E é aí que reside o desafio estratégico do nosso tempo: a luta de classes contemporânea se trava nos códigos, nas infraestruturas, nos dados, nos fluxos informacionais. Quem controlar a técnica, controlará o futuro.
A proposta deste ensaio é simples e radical: apropriar-se da técnica, arrancá-la das mãos do capital e colocá-la a serviço do bem comum. Transformar a automação em uma ferramenta de redistribuição de renda, redução da jornada de trabalho, ampliação do tempo livre e emancipação cultural. Construir uma soberania tecnológica que garanta que os fluxos de informação, os dados e as redes digitais sejam controlados pelo interesse social e não por corporações globais. Democratizar o acesso ao conhecimento técnico, formando cidadãos capazes de entender, modificar e controlar as tecnologias que estruturam a vida social.
Isso exige políticas públicas robustas, sim. Mas exige, acima de tudo, um projeto de luta. Uma visão estratégica que compreenda que a técnica será nossa aliada apenas se a sociedade estiver disposta a disputar seu controle. A automação não libertará ninguém se não for tomada pelas mãos do povo. A inteligência artificial não humanizará o trabalho se continuar submetida à lógica do lucro. O tempo livre, a cultura, a ciência e a arte não florescerão enquanto os frutos da produtividade forem apropriados por uma minoria.
A técnica será o motor da libertação ou a engrenagem definitiva da dominação capitalista. Essa é a contradição central do nosso tempo. O futuro está em disputa. E cabe a nós decidir de que lado estaremos nessa batalha. O lado da subordinação tecnológica e da colonização informacional ou o lado da soberania, da justiça social e da emancipação.
A luta já começou. Ela se trava nos fóruns internacionais, nas legislações nacionais, nos movimentos sociais, nas cooperativas digitais, nos laboratórios populares de tecnologia. Mas, acima de tudo, ela se trava na consciência de cada cidadão que compreende que a técnica não é neutra. Que ela é poder. E que o poder, como nos ensina a história, nunca foi concedido. Ele precisa ser tomado.
Este é o chamado. Tomar a técnica, para tomar o futuro. E garantir que a automação seja, finalmente, uma conquista da humanidade — e não uma ferramenta da sua servidão.
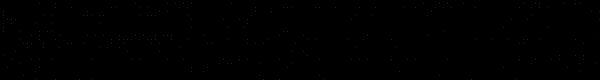

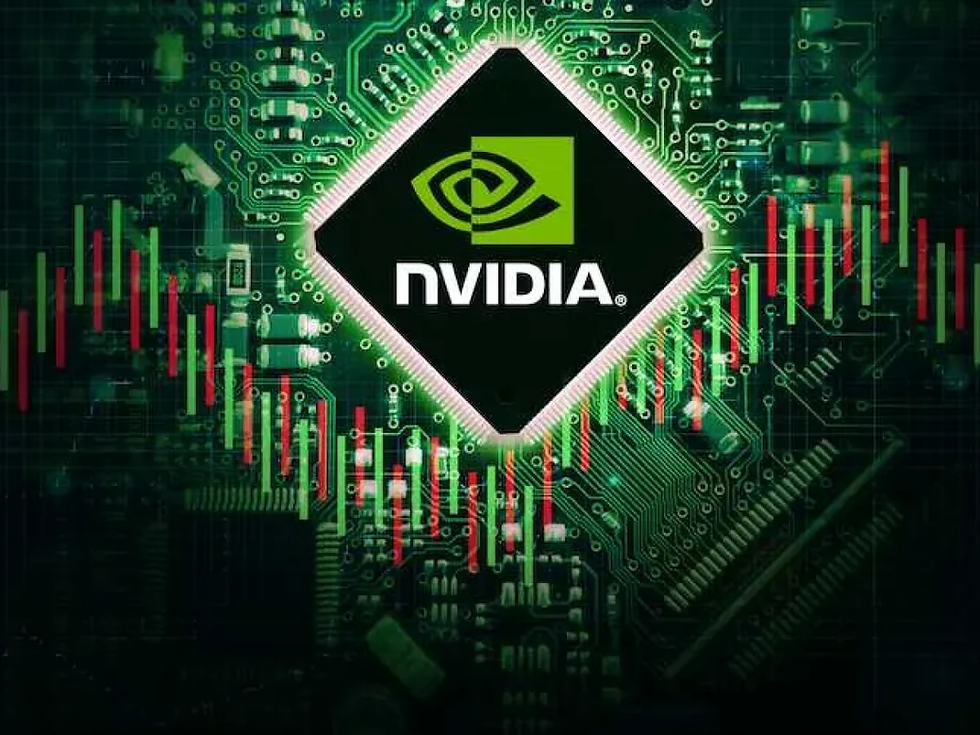


Comentários