Plataformas de guerra
- Rey Aragon

- 9 de ago. de 2025
- 16 min de leitura
Atualizado: 9 de ago. de 2025

Entre tarifas e algoritmos, as empresas de tecnologias transformam a crise EUA–Brasil numa guerra pela soberania.
A ofensiva de Donald Trump contra o Brasil não se limita ao campo econômico. Por trás das tarifas e sanções, um complexo de corporações de tecnologia, lobbies e redes políticas opera para enfraquecer decisões do STF, moldar a regulação a seu favor e impor ao país uma arquitetura digital sob medida para seus interesses. É uma batalha silenciosa, mas de consequências profundas, em que cada linha de código e cada cláusula de lei se tornam armas.
A nova frente de batalha
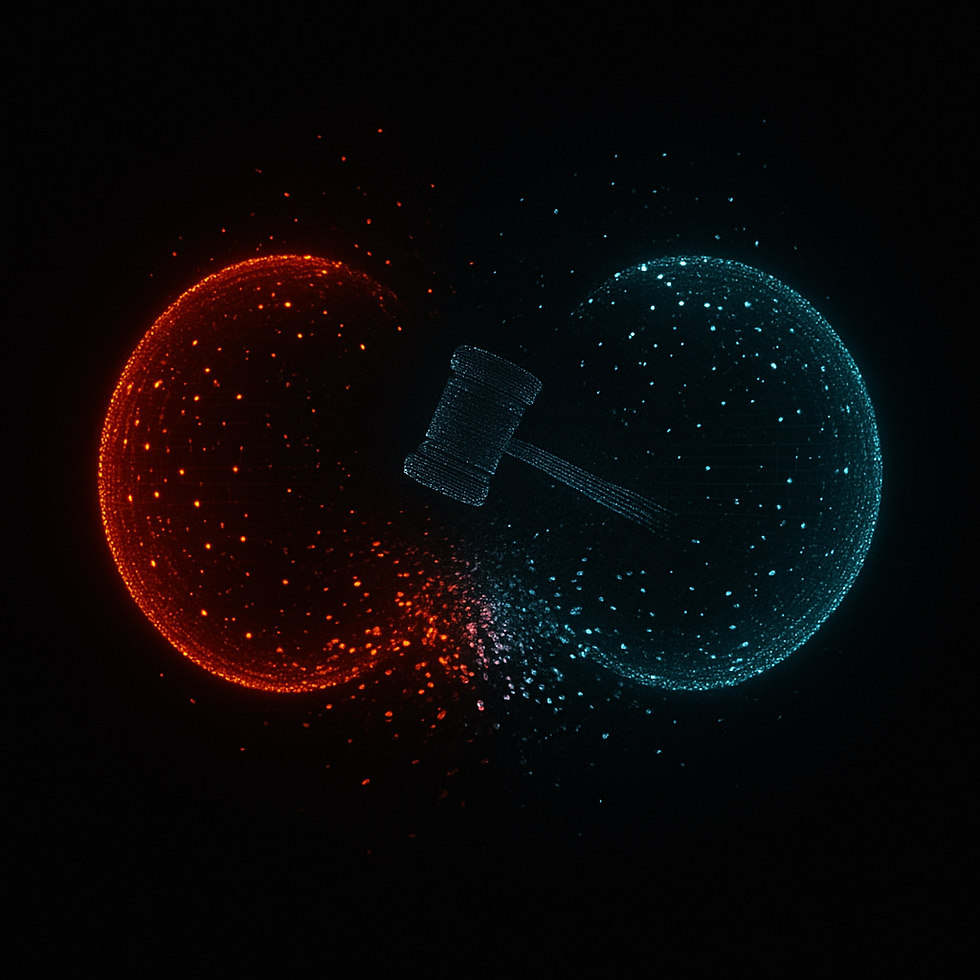
Não são as tarifas de 50% que definem a crise atual entre Brasil e Estados Unidos. Elas são apenas a face visível de uma ofensiva mais ampla, na qual o campo de batalha não é feito de tanques e mísseis, mas de servidores, algoritmos e redes sociais. É uma guerra híbrida em que as Big Techs — e as corporações alinhadas ao eixo trumpista — assumem papel de protagonistas, combinando pressão política, jurídica e econômica para reescrever, a seu favor, as regras que regulam o espaço digital brasileiro.
O estopim foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, em junho de 2025, que redefiniu a responsabilização das plataformas por conteúdos ilícitos, rompendo um paradigma que, desde o Marco Civil da Internet, blindava empresas de tecnologia de obrigações mais rígidas. A partir desse momento, a narrativa de “liberdade de expressão” passou a ser instrumentalizada como arma de pressão internacional, com Donald Trump transformando o caso em justificativa para sanções, tarifas e ameaças diplomáticas.
Mas a crise não é apenas reativa. Ela expõe a maturidade e a sofisticação de um ecossistema corporativo e político que já vinha sendo construído há anos, tanto em Brasília quanto em Washington. Um ecossistema capaz de atuar em duas frentes simultâneas: o confronto aberto, protagonizado por empresas e figuras que não hesitam em desafiar publicamente a autoridade do STF; e a diplomacia corporativa, conduzida em salas fechadas, onde executivos de gigantes da tecnologia oferecem promessas de investimento e inovação em troca de um ambiente regulatório sob medida.
A disputa que se desenrola hoje não é episódica. É o capítulo mais recente de uma luta de longo prazo pela soberania informacional do Brasil — e, se vencida pelas Big Techs, criará um precedente global que enfraquecerá qualquer país que tente impor regras próprias para seu espaço digital.
Linha de Fogo – Como a crise começou e o que mudou em 2025
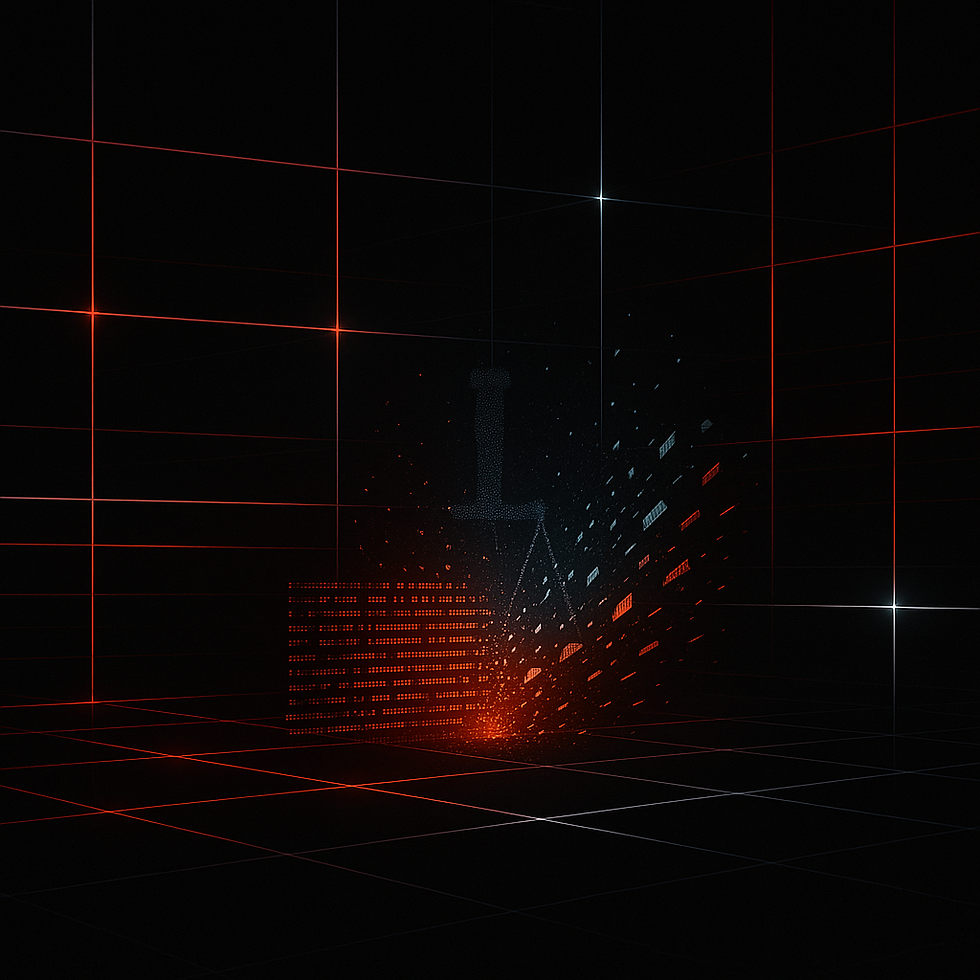
A fagulha que incendiou o tabuleiro foi acesa no dia em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Pela nova interpretação, as plataformas digitais não poderiam mais se escudar no argumento de “mera intermediária” para fugir de responsabilidade por conteúdos ilícitos que hospedam, passando a ter obrigações claras de moderação, transparência e devida diligência. Essa decisão, inédita no peso e no alcance, rompeu um arranjo jurídico que, por quase uma década, havia beneficiado empresas de tecnologia, permitindo-lhes lucrar com a viralização de conteúdos danosos sem consequências proporcionais.
A reação foi instantânea e orquestrada. Nos Estados Unidos, Donald Trump — que já havia consolidado uma aliança com Elon Musk, Rumble e o ecossistema midiático da extrema-direita digital — enquadrou a decisão do STF como um “ataque à liberdade de expressão” e, num movimento de rara sincronização entre política e economia, vinculou esse discurso à abertura de um processo de retaliação comercial pela Seção 301. Em poucos dias, a Casa Branca anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e sanções pessoais ao ministro Alexandre de Moraes sob a Lei Magnitsky, transformando a disputa jurídica em uma crise diplomática de alto calibre.
Enquanto a retórica belicosa tomava conta das manchetes, um segundo movimento se desenrolava nos bastidores: grandes corporações de tecnologia — Google, Meta, Amazon, Apple, Visa, entre outras — multiplicavam encontros com o vice-presidente Geraldo Alckmin e representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nessas mesas, sob o pretexto de discutir “inovação” e “ambiente regulatório seguro”, o objetivo real era claro: ganhar tempo, moldar a implementação da decisão do STF e, se possível, diluí-la em regulamentações brandas que neutralizassem seu alcance.
Ao mesmo tempo, em Brasília, frentes parlamentares e comissões estratégicas — da chamada Bancada do Like à Comissão Especial do Marco Legal da IA — se reorganizavam para separar, no discurso e, na prática, a regulação de inteligência artificial das regras sobre redes e plataformas. Essa manobra legislativa, conhecida como “desacoplamento regulatório”, tornou-se peça-chave para aliviar a pressão sobre as Big Techs enquanto o fogo cruzado entre Brasília e Washington continuava.
O que se formou, a partir daí, foi um campo de batalha assimétrico, onde cada lado joga com armas diferentes: o governo brasileiro e o STF apostam na legitimidade institucional e na via multilateral da OMC; os Estados Unidos e seus aliados corporativos combinam retaliação econômica, pressão diplomática e guerra narrativa para impor um recuo. E no meio desse embate, o futuro da soberania digital brasileira se decide em rodadas simultâneas de negociações, audiências e campanhas de opinião pública.
O Tabuleiro e suas Peças – Mapa dos atores e frentes no Brasil
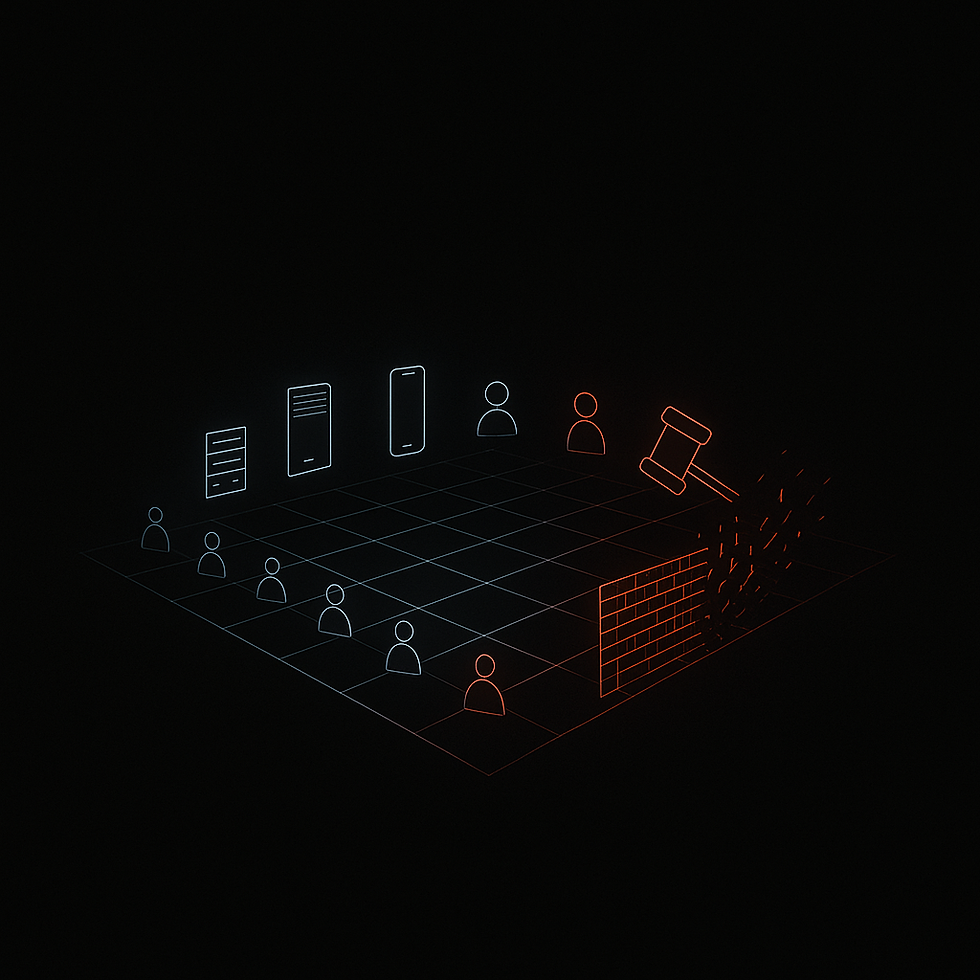
O campo interno brasileiro, diante da crise com os Estados Unidos e da pressão das Big Techs, está longe de ser uniforme. Entre o STF, o Executivo, o Legislativo e as frentes corporativas, formou-se uma rede de atores que operam com objetivos próprios, mas cujas ações influenciam inevitavelmente o desfecho dessa disputa pela soberania digital. No Congresso, a chamada “Bancada do Like” ressurgiu como força política renovada. Forjada a partir da antiga Frente Digital, consolidada em 2019 com apoio de empresas como Google e iFood, esse grupo ganhou notoriedade ao resistir a projetos de regulação de redes sociais, como o PL 2630. Agora, em 2025, atua para dissociar completamente a pauta de regulação das plataformas do debate sobre inteligência artificial, blindando o modelo de negócios das gigantes de tecnologia contra obrigações que possam afetar seus lucros ou forçá-las a alterar o funcionamento de seus algoritmos.
A Frente Parlamentar da Influência Digital (FRENID), instituída oficialmente em março deste ano e liderada pelo deputado Pedro Paulo, cumpre papel semelhante. Sob o discurso de “ambiente regulatório amigável”, a FRENID se apresenta como espaço de articulação para creators e empresários digitais, mas, na prática, também se alinha aos interesses corporativos das plataformas, funcionando como amortecedor legislativo contra iniciativas mais duras do Executivo e do STF. Em paralelo, a criação de uma Frente de Segurança Cibernética no Congresso desloca o foco do debate para temas como crimes digitais e proteção de dados. Embora relevantes, essas pautas permitem que parlamentares mantenham uma retórica de enfrentamento à criminalidade online sem tocar no núcleo da disputa — a responsabilização das plataformas —, o que, indiretamente, favorece os interesses das Big Techs.
A Comissão Especial do Marco Legal da Inteligência Artificial, presidida por Luísa Canziani e relatada por Aguinaldo Ribeiro, tornou-se peça-chave nessa estratégia. O colegiado insiste em não incluir dispositivos sobre redes sociais ou moderação de conteúdo no texto do PL 2.338/2023, preservando a agenda de IA “limpa” e afastando qualquer risco de que a regulamentação desse campo arraste consigo medidas mais rigorosas para o ecossistema digital. Essa separação, conhecida como “desacoplamento regulatório”, é tratada pelas empresas de tecnologia como uma vitória tática.
No Executivo, o governo Lula tenta equilibrar firmeza e pragmatismo. De um lado, sustenta a autoridade do STF e a importância da decisão que alterou o Marco Civil da Internet; de outro, busca evitar que a escalada comercial e diplomática com os EUA ameace investimentos estratégicos e setores sensíveis da economia. O vice-presidente Geraldo Alckmin conduz o diálogo com as empresas e com representantes do governo americano, tentando encontrar soluções que preservem a autonomia regulatória sem aprofundar a crise econômica. Já o Supremo Tribunal Federal, sob a presidência de Luís Roberto Barroso, mantém posição firme. Barroso enfatiza que a decisão de junho não é censura, mas uma resposta necessária ao modelo de negócios que se alimenta de ódio e desinformação. Alexandre de Moraes, alvo direto das sanções e da retórica hostil de Washington, tornou-se símbolo dessa resistência institucional, reforçando a mensagem de que ceder à pressão significaria abrir mão da jurisdição brasileira sobre seu próprio território digital.
Assim, o tabuleiro interno é marcado por forças que empurram em direções opostas. Enquanto parte do Legislativo e setores corporativos trabalham para suavizar ou neutralizar as novas regras, o STF e segmentos do Executivo se esforçam para consolidar a decisão como política de Estado, conscientes de que um recuo agora abriria precedentes perigosos e ampliaria o espaço de manobra das Big Techs no futuro.
As duas trilhas de guerra das Big Techs
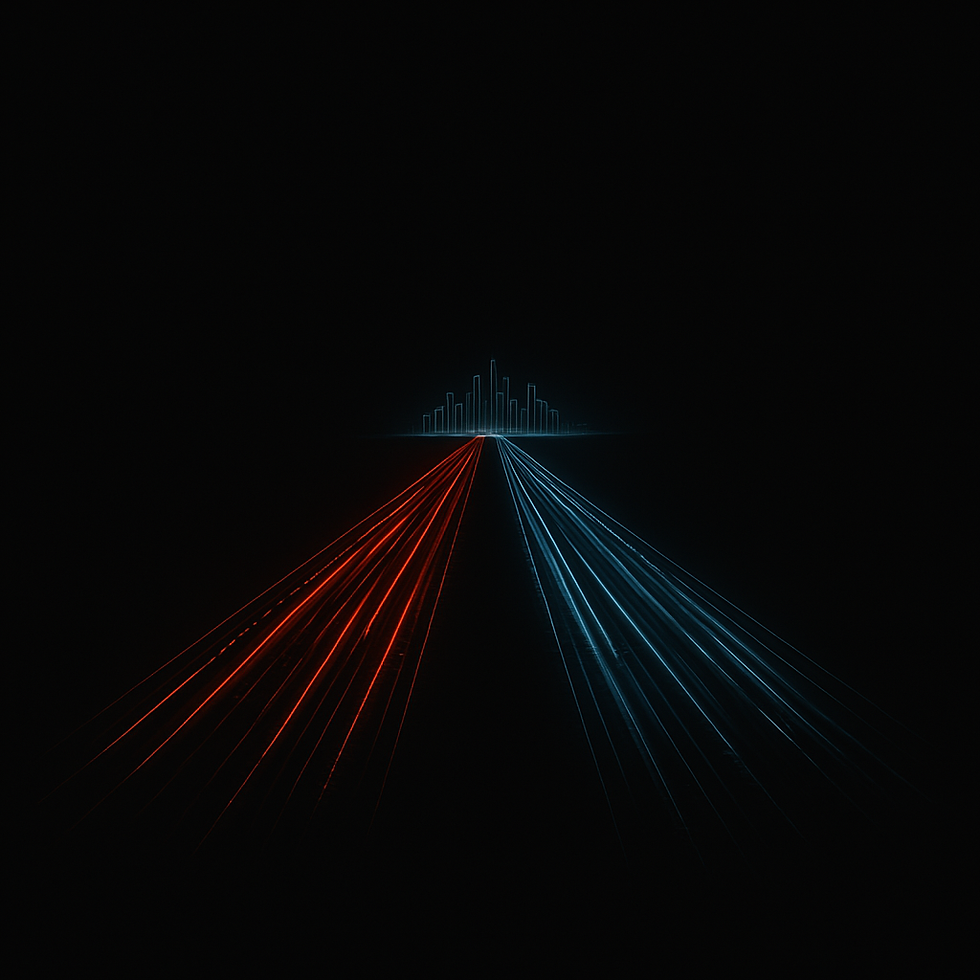
As Big Techs operam hoje no Brasil com uma estratégia bifurcada, combinando ofensiva direta e diplomacia corporativa para moldar o ambiente regulatório a seu favor. Na trilha do confronto aberto, o protagonismo está nas mãos de Elon Musk, do X, e de plataformas alinhadas ao ecossistema midiático trumpista, como a Rumble e a Trump Media. Desde 2024, Musk trava uma guerra pública contra o Supremo Tribunal Federal, contestando decisões judiciais, acumulando multas e fechando operações locais. Em 2025, essa escalada atingiu um novo patamar quando Rumble e Trump Media levaram ações contra o ministro Alexandre de Moraes a cortes americanas, obtendo decisões que lhes permitiram ignorar ordens do STF. O movimento foi sincronizado com a ofensiva do governo Trump, que, sob o argumento de “proteger a liberdade de expressão”, aplicou sanções pessoais a Moraes com base na Lei Magnitsky e acionou a Seção 301 para impor tarifas de 50% sobre exportações brasileiras. Nessa frente, a mensagem é clara: qualquer tentativa de impor regras mais rígidas às plataformas será tratada como afronta política e econômica aos Estados Unidos.
Em paralelo, as mesmas corporações ou seus pares operam uma trilha mais discreta, mas igualmente poderosa: a diplomacia corporativa. Executivos de Google, Meta, Amazon, Apple, Visa e outras empresas de tecnologia multiplicaram reuniões com o vice-presidente Geraldo Alckmin e representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Oficialmente, o objetivo dessas conversas é discutir inovação, investimentos e segurança jurídica. Na prática, servem para negociar o ritmo e o alcance da implementação da decisão do STF, oferecendo promessas de expansão de negócios e geração de empregos como moeda de troca para obter uma regulamentação mais branda e calibrada aos seus interesses.
Essa dupla abordagem — choque aberto e negociação velada — funciona como um cerco assimétrico. O confronto direto serve para intimidar, testar a resiliência institucional e gerar custos políticos à resistência brasileira; já a diplomacia corporativa busca construir pontes com o Executivo e setores econômicos, explorando o receio de retaliações prolongadas para arrancar concessões. As duas trilhas não se excluem, mas se complementam, operando de forma coordenada para garantir que, qualquer que seja o cenário final da crise, as Big Techs mantenham o controle sobre as regras que afetam seu poder e seus lucros no país.
Redes e lobbies internacionais

A engrenagem que sustenta a ofensiva das Big Techs na crise EUA–Brasil não se limita aos movimentos de empresas e executivos. Ela se apoia em redes consolidadas de lobby e influência política, tanto em Washington quanto em Brasília, capazes de operar em múltiplos níveis e com canais diretos para governos, parlamentos e opinião pública. No epicentro dessa articulação, em solo americano, está a Computer & Communications Industry Association (CCIA), que representa gigantes como Google, Amazon e Meta. Desde a abertura da Seção 301 pelo governo Trump, a CCIA se tornou fonte ativa de argumentos para o USTR, descrevendo a responsabilização das plataformas como “barreira digital” e alegando tratamento discriminatório contra empresas dos Estados Unidos. Esses posicionamentos, repetidos em documentos oficiais, acabam sendo incorporados ao discurso diplomático americano, reforçando a narrativa de que o Brasil está criando um ambiente hostil para a inovação.
Ao lado da CCIA, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e a AmCham Brasil cumprem um papel mais calibrado, evitando o embate direto com o governo brasileiro, mas pressionando por uma negociação rápida. O foco dessas entidades não é defender o STF ou a decisão sobre o Marco Civil, mas minimizar o impacto das tarifas sobre as cadeias de fornecimento e operações das empresas que representam. Essa abordagem aparentemente neutra é, na prática, funcional ao objetivo das Big Techs: criar um senso de urgência econômica que favoreça concessões regulatórias.
Em paralelo, há uma dimensão menos visível dessa rede, que conecta consultores estratégicos, escritórios de advocacia internacionais e think tanks alinhados à agenda pró-mercado digital irrestrito. Essas organizações produzem estudos, relatórios e eventos que moldam o debate público, influenciam legisladores e alimentam a imprensa com argumentos contrários a qualquer endurecimento das regras sobre plataformas. É uma atuação que combina lobby formal com guerra de narrativas, projetando no exterior a imagem de que o Brasil está adotando medidas autoritárias e inibidoras da livre expressão.
No Brasil, esses vetores de influência encontram eco em frentes parlamentares como a Bancada do Like e a FRENID, que reproduzem, com pequenas adaptações, os mesmos argumentos defendidos nos corredores do Congresso americano. A simetria não é coincidência: há um trânsito constante de informações e estratégias entre esses grupos, muitas vezes mediado por associações empresariais binacionais e intermediários políticos. O resultado é um campo de pressão coordenado, onde atores nacionais e estrangeiros se reforçam mutuamente, criando um cerco político e narrativo ao STF e ao Executivo brasileiros.
Narrativas em disputa
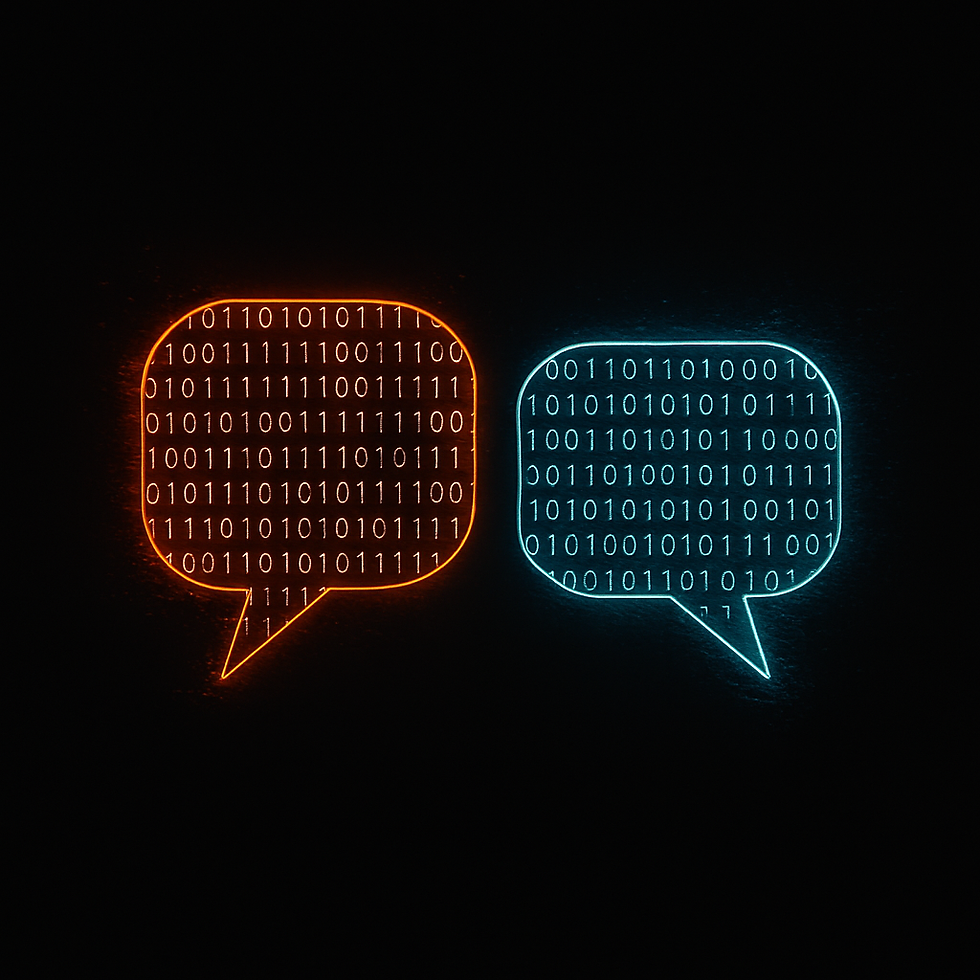
A disputa entre Brasil, Estados Unidos e Big Techs não se trava apenas em tribunais, mesas de negociação ou escritórios de lobby. Ela é, antes de tudo, uma guerra de narrativas. De um lado, as empresas de tecnologia e seus aliados políticos difundem a ideia de que a decisão do Supremo Tribunal Federal representa uma ameaça direta à liberdade de expressão e à inovação. Essa narrativa, cuidadosamente calibrada, evita discutir o núcleo do problema — o modelo de negócios baseado na monetização de conteúdo tóxico e desinformação — e, em vez disso, desloca o debate para um terreno emocional e de fácil adesão, onde qualquer regulação é pintada como censura. É nessa lógica que executivos de Google e Meta reforçam publicamente, em entrevistas e comunicados, que mudanças bruscas podem “desestimular investimentos” e “afetar a competitividade do Brasil no cenário digital global”.
Do outro lado, o STF, o Executivo e setores da sociedade civil tentam contrapor uma narrativa ancorada na defesa da soberania e da integridade democrática. O presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, insiste que não se trata de censura, mas de garantir que crimes cometidos no ambiente digital sejam tratados com a mesma seriedade que no mundo físico. Alexandre de Moraes, alvo das sanções americanas e dos ataques de Trump, transformou-se no rosto dessa resistência, afirmando que a não responsabilização das plataformas é incompatível com a preservação do Estado de Direito.
A sociedade civil organizada, por meio de redes como a Coalizão Direitos na Rede, procura reposicionar a discussão, lembrando que responsabilizar plataformas não significa restringir liberdade de expressão, mas assegurar que direitos fundamentais — como a honra, a privacidade e a integridade física — sejam preservados. Essa narrativa, porém, enfrenta dois desafios. O primeiro é a assimetria de recursos: as empresas dispõem de orçamentos milionários para campanhas de comunicação, produção de estudos e influência midiática. O segundo é a disputa pela linguagem: termos como “liberdade”, “inovação” e “abertura” são deliberadamente apropriados pelo discurso corporativo, criando um dilema para quem tenta argumentar a favor da regulação sem parecer hostil à tecnologia ou ao progresso.
O campo de batalha semântico é, portanto, central para o desfecho da crise. Quem conseguir impor sua narrativa — e, com ela, moldar a percepção pública nacional e internacional — terá vantagem decisiva nas negociações e na implementação prática das novas regras. É por isso que a guerra em curso não se limita a tarifas e sanções: ela também se trava em comunicados oficiais, entrevistas cuidadosamente roteirizadas, hashtags impulsionadas e declarações em fóruns internacionais, cada qual buscando transformar sua versão dos fatos em verdade incontestável.
Cenário preditivo

A partir do alinhamento atual de forças, três horizontes se desenham para o Brasil no embate com as Big Techs e a ofensiva de Trump. No curto prazo, a atenção se concentra nas audiências da Seção 301, previstas para setembro, e nas negociações das mesas técnicas conduzidas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Aqui, o risco imediato é a introdução de compromissos velados ou interpretações regulatórias que esvaziem a decisão do STF sob o pretexto de garantir segurança jurídica para investidores. As corporações sabem que esse é o momento mais vulnerável para o governo, pressionado a apresentar resultados concretos que aliviem a tensão comercial sem parecer que recua.
No médio prazo, a tendência é de intensificação da estratégia de “desacoplamento regulatório” no Congresso. Se bem-sucedida, ela manterá a agenda de inteligência artificial livre de dispositivos sobre plataformas e moderará o impacto da responsabilização determinada pelo STF, deslocando-a para um terreno infralegal e sujeito a alterações administrativas. Esse caminho favorece as empresas, pois permite que se adaptem sem mudanças estruturais e, ao mesmo tempo, cria espaço para lobbying contínuo visando “ajustes” futuros. Nesse cenário, o Brasil correria o risco de ter uma lei forte no papel, mas frágil, na prática, dependente da vontade política de aplicá-la.
No longo prazo, o verdadeiro perigo está na consolidação de um precedente global: se a pressão americana e corporativa conseguir enfraquecer a decisão brasileira, outras nações do Sul Global dificilmente terão condições de enfrentar sozinhas as Big Techs. Um recuo do Brasil não apenas validaria o modelo de negócios atual das plataformas, como também sinalizaria que qualquer tentativa de regulação pode ser revertida por meio de retaliação econômica e diplomática coordenada. Ao contrário, se o país resistir, implementando com firmeza as novas regras e defendendo sua posição em instâncias como a OMC, poderá emergir como referência internacional na defesa da soberania informacional e inspirar políticas semelhantes em países com contextos políticos e econômicos análogos.
A leitura preditiva, portanto, aponta para um jogo de resistência e desgaste. As Big Techs e o governo Trump vão testar os limites do Brasil, buscando fissuras internas e oportunidades para introduzir concessões graduais que pareçam técnicas, mas tenham efeito estratégico. O lado brasileiro, por sua vez, precisará combinar firmeza institucional com articulação diplomática e narrativa convincente para sustentar a decisão do STF como expressão legítima de um Estado soberano no século XXI. O desfecho não será definido por um ato isolado, mas pelo conjunto de microvitórias ou microderrotas acumuladas nos próximos meses — cada uma delas moldando, de forma quase imperceptível, a arquitetura digital do país para a próxima década.
Estratégias defensivas e contra-ataque

A resposta brasileira precisa combinar blindagem jurídica, engenharia regulatória de alta precisão, diplomacia econômica ativa e construção de narrativa pública. No plano jurídico-regulatório, o ponto de partida é transformar a decisão do STF em política de Estado com implementação técnica inequívoca: publicar, a curto prazo, guias operacionais vinculantes que detalhem deveres de devida diligência, prazos de resposta, preservação de provas e canais de apelação do usuário; exigir representação legal efetiva no país com poderes para receber e cumprir ordens judiciais; impor obrigações de transparência granular por categoria de risco — fluxos de desinformação eleitoral, violência, ódio, saúde pública — com relatórios auditáveis por amostragem; instituir APIs de auditoria para pesquisadores credenciados, preservando dados pessoais, e trilhas de auditoria sobre decisões algorítmicas de promoção e remoção. Em paralelo, definir salvaguardas procedimentais que coíbam excesso e preservem liberdade de expressão, para neutralizar o discurso de “censura”: matriz de proporcionalidade, justificativas obrigatórias, contradição do usuário e revisão independente quando a moderação afetar conteúdos jornalísticos, acadêmicos e de interesse público. A ANPD e o Sistema Nacional de IA devem ganhar papel explícito de coordenação e supervisão técnica, com capacidade de emitir sanções proporcionais e medidas cautelares reversíveis — inclusive obrigação de “fixes” algorítmicos em casos de risco sistêmico — e de homologar metodologias de avaliação de impacto algorítmico com periodicidade definida e publicação de sumários executivos.
No plano econômico-diplomático, a estratégia é abrir duas frentes simultâneas. A primeira é defensiva e multilateral: acionar e sustentar o contencioso na OMC, documentando a vinculação indevida entre “liberdade de expressão” e comércio, enquanto costura apoio de países do Sul Global que enfrentam problemas semelhantes com plataformas; usar BRICS e Mercosul para negociar padrões mínimos regionais de responsabilidade e transparência que reduzam a capacidade de “forum shopping” regulatório; envolver UE e Canadá como terceiros interessados, aproximando elementos já consolidados no DSA europeu e em leis de transparência algorítmica. A segunda é ofensiva e setorial: reequilibrar a mesa de negociação com contrapartidas mensuráveis. Se as empresas desejam previsibilidade, elas a obtêm mediante compromissos verificáveis de governança: presença técnica e decisória no Brasil, cronogramas de implementação, auditorias independentes, fundos de remediação para danos coletivos e cooperação estruturada com autoridades em eleições e violência política. Em qualquer agenda de “descompressão” tarifária, ancorar cláusulas de desempenho e marcos públicos de cumprimento; sem entrega, não há contrapartida.
No terreno da segurança e da infraestrutura, avançar com medidas que elevem os custos do abuso sistêmico sem onerar usuários ou a imprensa: padronizar ordens judiciais eletrônicas com metadados legíveis por máquina; criar um núcleo interinstitucional de resposta rápida com Ministério da Justiça, TSE, PF e agências de proteção de dados para eventos de alto risco (eleições, atentados, campanhas coordenadas), com protocolos de 24–72 horas e logs publicados a posteriori; investir em capacidade nacional de observabilidade de plataformas — inclusive laboratórios públicos-universitários com financiamento estável — para detecção de redes coordenadas e avaliação de mudanças de produto que afetem a integridade informacional. Em paralelo, ampliar a soberania de infraestrutura com compras públicas que priorizem tecnologias auditáveis e interoperáveis, apoiar nuvens nacionais e exigências de portabilidade e interoperabilidade entre serviços para reduzir lock-in econômico e político.
No campo narrativo, é crucial sair da defensiva. O governo e o STF precisam comunicar que responsabilização não é censura, é simetria de deveres no ambiente digital; que transparência e auditoria protegem o jornalismo e a pesquisa; e que a disputa é sobre regras claras para empresas com poder estrutural, não sobre calar opositores. Para isso, usar linguagem simples e previsível: publicar painéis públicos trimestrais com indicadores de cumprimento por plataforma; explicar casos paradigmáticos e remédios adotados; e mobilizar a sociedade civil qualificada — universidades, organizações de direitos digitais, entidades jornalísticas — como validadores independentes. Nas relações com o setor produtivo, evitar o falso dilema “empregos versus regulação”: atrelar incentivos de investimento a metas de integridade, abertura de centros de pesquisa no país, formação de talentos e transferência de conhecimento, mostrando que governança robusta é vantagem competitiva e não barreira.
Por fim, preparar o país para um jogo de desgaste. A ofensiva corporativa continuará a buscar “ajustes técnicos” que, somados, esvaziem a substância da decisão do STF. Para neutralizar essa erosão silenciosa, é indispensável instituir revisões anuais do regime de cumprimento, com audiências públicas e pareceres técnicos publicados, e criar uma “cláusula anti-regressão” que vede alterações infralegais que comprometam os objetivos de proteção a direitos e integridade democrática. Se o Brasil sustentar coerência jurídica, amarrar a diplomacia a entregas verificáveis e ocupar o campo narrativo com transparência ativa, inverterá o custo político da pressão: cada tentativa de retaliação passará a evidenciar que o conflito nunca foi sobre liberdade de expressão, mas sobre quem controla as regras do espaço digital brasileiro
Conclusão
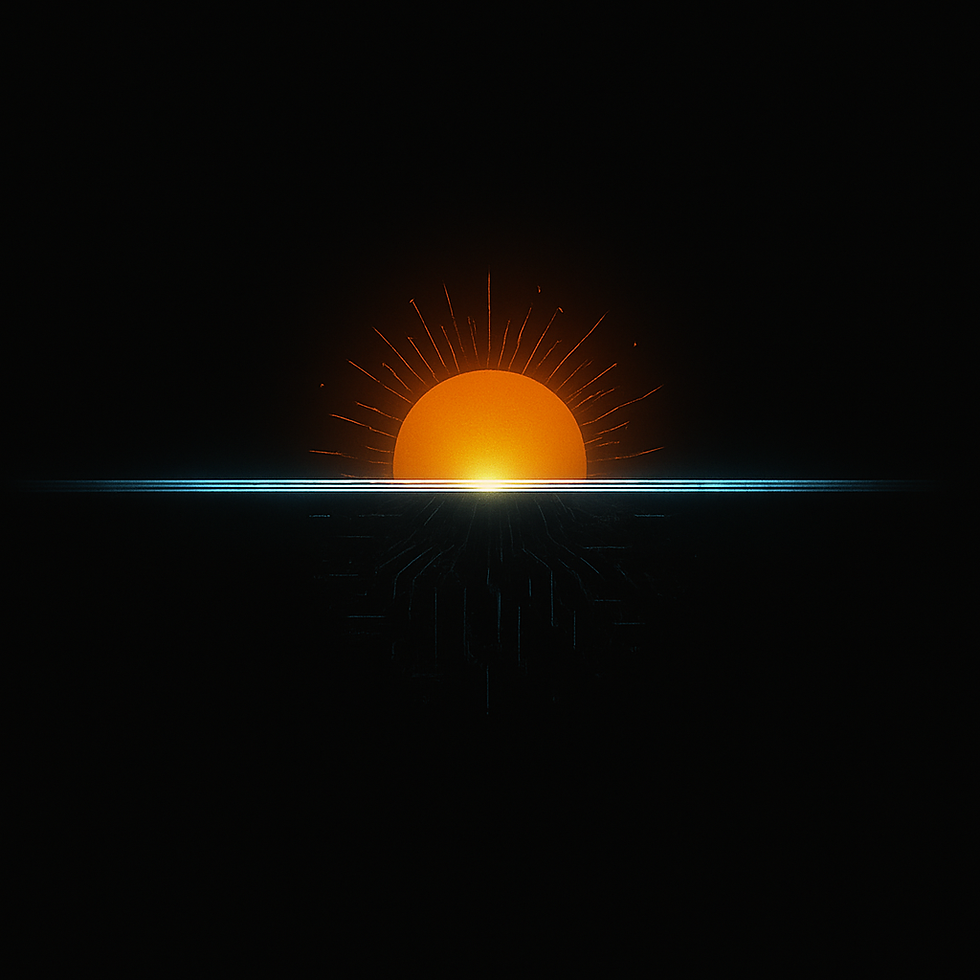
No fundo, a crise entre Brasil, Estados Unidos e Big Techs nunca foi apenas sobre tarifas, sanções ou disputas jurídicas pontuais. É uma luta estrutural pelo poder de definir as regras que governam o espaço digital — e, por consequência, a própria arquitetura da esfera pública no século XXI. Trump e o ecossistema corporativo que o acompanha entenderam rapidamente que atacar a decisão do STF não era apenas um ato de retaliação política, mas uma oportunidade para reafirmar o domínio norte-americano sobre a governança da internet. As Big Techs, com seu poder econômico e capacidade de moldar narrativas, transformaram-se em peças centrais dessa ofensiva, operando em sincronia com redes de lobby, parlamentos e diplomacia para proteger um modelo de negócios que lucra com o caos informacional e resiste a qualquer tentativa de responsabilização real.
O Brasil, ao sustentar a decisão do Supremo e buscar ancorá-la em políticas de Estado, está diante de um teste que transcende fronteiras: se recuar, enviará ao mundo a mensagem de que nenhum país do Sul Global pode impor regras às gigantes tecnológicas sem pagar um preço insuportável; se resistir, criará um precedente poderoso e inspirador para outras nações que enfrentam o mesmo dilema. O desfecho dessa batalha não se decidirá apenas nas salas de audiência ou nas mesas de negociação, mas também na capacidade de manter coerência jurídica, disciplina diplomática e presença firme no campo da opinião pública. Nesta guerra híbrida, cada silêncio e cada concessão têm peso estratégico; cada ato de transparência e cada gesto de firmeza são também instrumentos de dissuasão. A escolha está posta: ou o Brasil consolida seu direito soberano de definir seu próprio destino digital, ou aceitará viver sob as regras que outros escreverem — e, nesse caso, não haverá algoritmo capaz de restaurar a soberania perdida.




Comentários