A ideologia da positividade e a destruição do dissenso: um ensaio dialético
- Rey Aragon

- 1 de jul. de 2025
- 11 min de leitura

Num tempo em que sorrir virou mandamento, a positividade compulsória se ergue como a mais sutil e devastadora arma do capitalismo: silencia a dor, dissolve o conflito, esteriliza a política. Este ensaio rasga o verniz brilhante do otimismo tóxico para devolver ao dissenso sua dignidade transformadora. Porque só quem ousa dizer não, pode reconstruir o nós
Vivemos num tempo em que a positividade se ergueu como mandamento absoluto. Ser positivo, sorrir, motivar-se, ressignificar toda dor, converter todo fracasso em oportunidade: eis a cartilha moral da era digital, repetida como oração laica nos corredores corporativos, nas timelines luminosas, nas rodas de conversas empobrecidas pelo vocabulário do coaching. O imperativo da positividade não tolera a recusa, não admite o protesto, não suporta a crítica; é um dogma suave que se inscreve nos corpos e nas mentes como segundo instinto, e, ao mesmo tempo, dissolve o dissenso na espuma anestésica do otimismo.
“A crítica da religião se transforma na crítica do direito, a crítica do direito na crítica da política, e a crítica da política na crítica da economia política.” - Karl Mark
A cultura da positividade não é uma flor, espontânea, brotada do espírito humano contemporâneo: ela é, antes de tudo, um produto histórico, político e econômico. É a forma ideológica específica do capitalismo digital avançado para conter a potência do conflito, para domesticar a negação, para mutilar a imaginação política que ousa sonhar outro mundo. Seu sorriso não é inocente; sua leveza é brutal.
Byung-Chul Han descreveu com precisão a exaustão do sujeito contemporâneo, esmagado pela positividade compulsória. Mark Fisher denunciou a prisão mental do realismo capitalista, onde não cabe alternativa nem esperança. Wendy Brown desnudou a captura neoliberal da esfera pública, onde a cidadania se torna performance e a política vira gestão de si. Cada um desses autores, à sua maneira, apontou a ruína subjetiva e coletiva gerada por um sistema que exige entusiasmo mesmo no abismo.
Mas é ao olhar de Marx e da tradição materialista histórico-dialética que cabe rasgar o véu final: a positividade tóxica não paira sobre as pessoas como névoa moral, mas brota do ventre da exploração capitalista, que precisa impedir a negação radical — precisa sufocar a luta, a rebeldia, a crítica, para garantir a reprodução de sua ordem. Essa positividade é o cimento ideológico que preenche as rachaduras de um sistema podre, e, ao mesmo tempo, anestesia os corpos para aceitarem a dor sem transformá-la em levante.
Este ensaio quer mergulhar nesta engrenagem com a faca afiada do materialismo dialético. Quer rastrear, em cada canto, como a positividade compulsória se construiu como dispositivo hegemônico, servindo ao capital para neutralizar a política e suprimir o dissenso. Quer ouvir os ecos de Han, Fisher e Brown, mas reinscrevê-los na gramática da luta de classes, onde a negação não é doença, mas condição da liberdade.
Sigamos, então, sem medo do conflito porque só o conflito faz a história caminhar.
Marx: ideologia, alienação e a negação negada.

No coração do pensamento marxista lateja uma verdade incômoda: toda sociedade de classes forja, ao lado de suas estruturas econômicas, as engrenagens ideológicas necessárias para naturalizar a dominação. Não basta explorar; é preciso convencer o explorado de que sua servidão é justa, inevitável ou até virtuosa. É nesse ponto que a ideologia deixa de ser mera ilusão e se converte em condição indispensável para a reprodução do capital.
Marx, ao desconstruir as engrenagens do capitalismo industrial, revelou que a ideologia não paira como uma nuvem de engano voluntário, mas se entranha na materialidade da vida social, moldando percepções, hábitos, linguagens, afetos. Ao formatar a consciência, a ideologia pacifica a luta, nega a negação, paralisa o potencial transformador que brota da contradição. E se há algo que a história ensina, na leitura dialética, é que a mudança nasce do choque, do antagonismo, do dissenso que se organiza.
A positividade tóxica, nesse sentido, é uma forma ideológica extraordinariamente eficiente. Ao prescrever o otimismo como única via aceitável, ela sequestra o dissenso antes mesmo que este floresça, transformando a dor em falha individual, o fracasso em prova de insuficiência pessoal, e a revolta em desequilíbrio psicológico. Como um anestésico administrado em doses diárias, a positividade bloqueia a percepção da exploração, impedindo que a negação, a recusa, a denúncia, a indignação se articule enquanto força histórica viva.
Alienação, para Marx, não é somente afastamento do produto do trabalho, mas estranhamento de si, do outro e do mundo. O trabalhador, alienado, não reconhece a própria força como força social transformadora. A positividade compulsória amplifica esse estranhamento, pois retira do indivíduo a possibilidade de identificar a raiz estrutural de sua dor, empurrando-o para soluções mágicas, motivacionais, atomizadas, incapazes de tocar na contradição de classe.
E aqui se revela sua função mais perversa: a positividade compulsória não apenas ilude, ela desarma. Porque se toda crítica se transforma em “negatividade”, resta ao indivíduo apenas dobrar-se ao sistema, ainda que este o sufoque. A negação, que seria a centelha da transformação, é rotulada como erro, como vício, como fracasso de caráter. E assim, o capital respira aliviado: sua paz se sustenta sobre a mutilação simbólica do conflito.
Este é o solo fértil onde a positividade germina como dispositivo histórico: não uma patologia espontânea, mas uma necessidade funcional à ordem burguesa. Em cada sorriso imposto, há uma máquina de silenciamento; em cada palavra de motivação, um gesto de legitimação da exploração. Por isso, resgatar Marx significa devolver ao dissenso sua dignidade, restituindo a negação ao seu lugar originário, o de motor da história.
Gramsci: hegemonia, senso comum e consentimento.

Antonio Gramsci nos ensina que o poder capitalista não se sustenta apenas sobre a coerção, mas sobre um pacto profundamente assimétrico de consentimento. Não basta dominar corpos; é preciso conquistar mentes e corações. Essa conquista se dá através da produção de um senso comum, tecido no cotidiano, capaz de fazer parecer natural aquilo que é, na verdade, imposição histórica.
Gramsci chama esse processo de hegemonia: a construção de uma direção cultural, moral e intelectual que legitima a ordem dominante e neutraliza a força potencial do conflito de classes. Ao capturar a imaginação popular, a hegemonia se apresenta como horizonte único, dissolvendo alternativas e marginalizando todo gesto de recusa.
A positividade tóxica é uma engrenagem essencial dessa hegemonia contemporânea. Ela molda sujeitos que internalizam a exploração como falha pessoal e, ao mesmo tempo, celebram a resiliência como virtude suprema. Sob o manto suave de “vencer desafios”, a positividade transforma derrotas coletivas em desafios individuais, e a solidariedade em performance de autoajuda. Assim, o senso comum se estrutura num código afetivo, onde a negação do sistema não cabe, pois o fracasso sempre será culpa de quem não foi suficientemente otimista.
Gramsci nos ajuda a perceber que esse senso comum não surge do nada: ele é trabalhado pacientemente pelos aparelhos privados de hegemonia (escolas, meios de comunicação, igrejas, redes digitais) que propagam valores, narrativas e afetos funcionalmente adaptados ao capital. O otimismo compulsório, nesse quadro, não é apenas um modismo motivacional, mas uma tecnologia política sofisticada para domesticar consciências.
A positividade, assim, reforça o consentimento. Consentimento para aceitar salários degradantes, jornadas extenuantes, vidas precárias, desde que se tenha força para “superar”, para “fazer acontecer”, para sorrir apesar da dor. Consentimento para abdicar da ação coletiva, pois a política se torna sinônimo de negatividade, e a negatividade é crime moral num mundo regido pelo imperativo do entusiasmo.
Gramsci nos oferece, portanto, a chave para decifrar essa positividade como hegemonia afetiva: uma forma de governo dos sentimentos, afinada à lógica neoliberal, que desarma a crítica e fragmenta a solidariedade. E nos lembra, acima de tudo, que somente a ruptura do senso comum, somente a contra-hegemonia forjada na prática política e no conflito organizado, poderá devolver à história a sua energia transformadora.
Byung-Chul Han: a positividade como performance neoliberal.
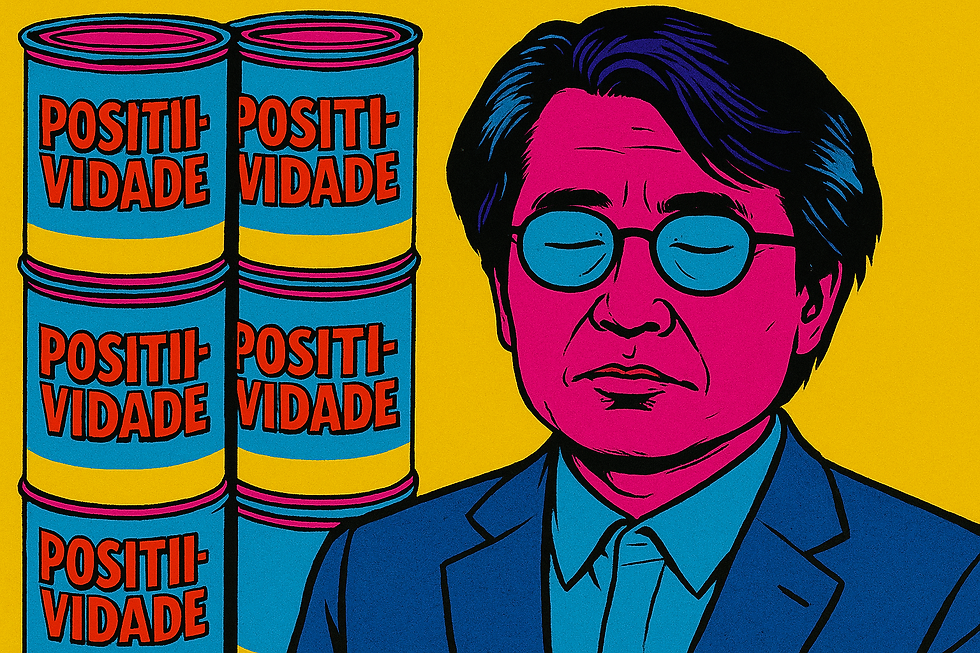
Byung-Chul Han, com a precisão cirúrgica de quem observa a alma de um tempo, nomeou a era atual como a era do desempenho. Não vivemos mais sob o signo da disciplina que moldava sujeitos obedientes, mas sob a tirania de uma liberdade aparente que exige, paradoxalmente, um desempenho ilimitado. A positividade, nessa ordem, não é apenas um adorno cultural: ela se torna motor da produtividade, uma engrenagem vital para manter o sujeito girando na roda do capital sem questionar a estrutura que o esmaga.
Han descreve o sujeito de desempenho como aquele que se explora voluntariamente, convencido de que toda falha é falta de esforço, toda dor é falta de entusiasmo. Esse sujeito internaliza a positividade como imperativo ético, tornando-se ao mesmo tempo, patrão e escravo de si mesmo. A positividade, nesse contexto, não é mero estado de espírito. É uma técnica de governo das almas.
Mas há um ponto onde Han recua: embora ilumine as patologias do excesso de positividade, depressão, burnout, cansaço crônico, ele não interroga de forma radical sua raiz material. O materialismo histórico-dialético pode avançar justamente onde Han para, ao revelar que o sujeito de desempenho não é produto do acaso, mas resultado de relações sociais e econômicas que exigem flexibilidade, docilidade, hiperdisponibilidade e autogestão. É o capital, em sua fase neoliberal, que precisa dissolver laços de classe, solidariedades históricas e projetos coletivos, substituindo-os por uma ética narcisista e isolada de superação pessoal.
A positividade compulsória, portanto, não brota da alma humana. Brota do capital, que para seguir acumulando, depende de corpos dóceis, mentes anestesiadas, afetos capturados. O não se torna um risco, pois pode travar a engrenagem. O dissenso se torna uma ameaça, pois pode romper o fluxo da mercadoria. Logo, a positividade vira antídoto preventivo contra qualquer embrião de negação.
Han nos oferece, assim, uma análise poderosa do adoecimento social, mas o marxismo nos obriga a ir além: a positividade não adoece apenas, ela explora, pois prolonga a alienação e transforma o sofrimento humano em ativo gerencial. Cada lágrima reprimida, cada medo silenciado, cada crítica anulada serve ao capital, garantindo sua reprodução sem fraturas visíveis.
Em última instância, a positividade neoliberal não é um capricho da subjetividade moderna, mas parte integral da estratégia de hegemonia de um sistema que transforma tudo, até os afetos, em mercadoria. A recusa, por isso, é o primeiro passo para retomar o sentido histórico do humano: resgatar a capacidade de dizer não e, a partir daí, reconstruir a possibilidade de dizer nós.
Mark Fisher: realismo capitalista e a colonização do imaginário.
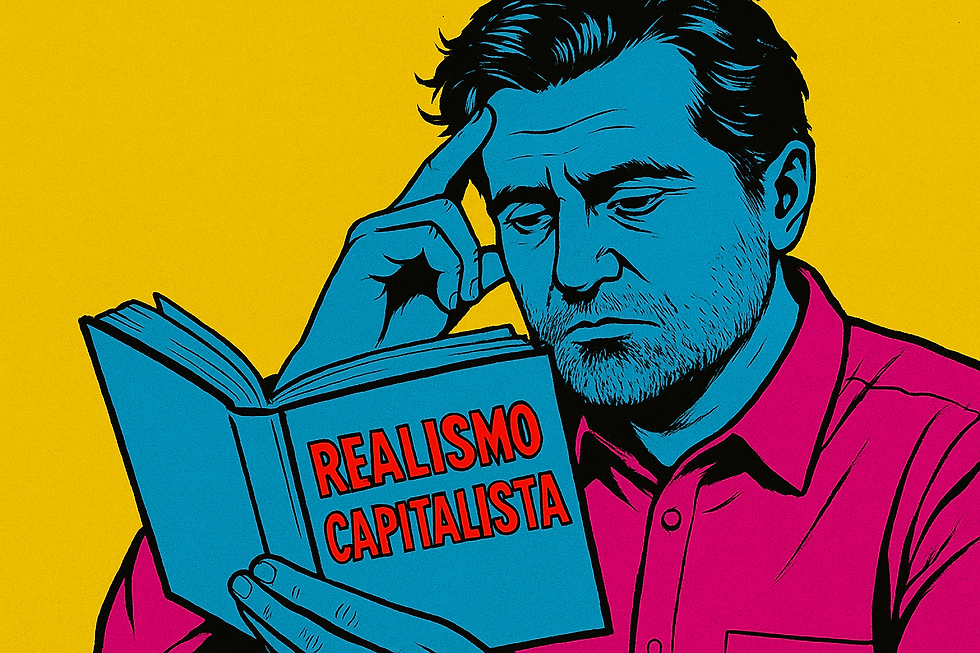
Mark Fisher cravou na carne do nosso tempo a expressão realismo capitalista, essa sensação sufocante de que não existe alternativa, de que o capitalismo não apenas domina o presente, mas sequestra o futuro e torna impensável qualquer horizonte de transformação. No mundo moldado por esse realismo, a positividade compulsória cumpre um papel sinistro: ela opera como muleta ideológica para suportar um sistema sem sonhos, sem esperança, sem utopias.
A positividade, nesse cenário, não passa de um recurso narcotizante. Ao anestesiar o sofrimento e converter toda angústia em problema de gestão pessoal, ela paralisa a imaginação política, exilando o dissenso para a terra do impossível. Fisher apontou com clareza: a força do capitalismo tardio não está apenas na exploração econômica, mas na captura do imaginário, no bloqueio das alternativas, na destruição da capacidade de desejar outro mundo.
O imperativo do otimismo, disseminado como doutrina de autoajuda, alinha-se perfeitamente a esse projeto de colonização do pensamento. O realismo capitalista precisa que as pessoas se mantenham motivadas, mas jamais indignadas. Precisa que tolerem a precariedade, mas não que a transformem em luta. Precisa que convertam a crítica em fracasso individual, e o fracasso em lição de superação. Assim, a positividade se torna uma das colunas mestras do edifício ideológico que sustenta o “não há alternativa”.
Do ponto de vista marxista, a positividade compulsória serve para naturalizar a exploração, mascarando as contradições estruturais e interditando qualquer faísca de insubordinação. O dissenso é demonizado como negatividade, e a negatividade, por sua vez, como ameaça à própria estabilidade psíquica. Num mundo onde o otimismo vira obrigação, a revolta se converte em patologia, e a recusa em crime moral.
Fisher nos convida, então, a restituir ao imaginário sua potência revolucionária. E o materialismo histórico-dialético nos lembra que o imaginário não brota do nada, mas nasce das condições materiais concretas que o tornam possível. Precisamos recuperar a capacidade de desejar o impossível, pois só assim podemos enxergar que o impossível de hoje é a realidade transformada de amanhã. Romper com o realismo capitalista significa devolver ao dissenso seu lugar legítimo: o de gesto inaugural de um futuro emancipado.
Wendy Brown: vulnerabilidade, neoliberalismo e democracia esvaziada.
Wendy Brown, ao analisar as engrenagens do neoliberalismo, nos adverte sobre um processo ainda mais devastador do que a simples mercantilização da vida: a corrosão da própria ideia de política. Sob o neoliberalismo, a esfera pública vai sendo gradualmente esvaziada, transformada num simulacro de participação onde a cidadania se dissolve na lógica da gestão, e o comum se reduz a uma soma de empreendimentos individuais.
Nesse ambiente, a positividade compulsória ocupa lugar de destaque. Ela converte a vulnerabilidade, que poderia ser percebida como condição compartilhada, portanto, passível de ação coletiva e solidariedade, em falha moral. Cada sujeito, transformado em gestor de si mesmo, passa a carregar não apenas o peso de sobreviver, mas também o de justificar seus próprios tropeços como fraqueza de caráter. O espaço da política, lugar histórico de disputa e conflito, é convertido em vitrine de performances otimistas, onde qualquer expressão de dor se torna inconveniente e qualquer crítica soa como desajuste.
A positividade, ao negar a legitimidade do sofrimento coletivo, atua como operador de fragmentação social. Ela impede a percepção de pertencimento de classe, desfaz laços de solidariedade e bloqueia a construção de um nós capaz de intervir na realidade. Assim, o neoliberalismo se alimenta dessa fragmentação: indivíduos isolados, consumidos pela gestão de si, sem horizonte de transformação, tornam-se presas fáceis para a exploração e a manipulação política.
Wendy Brown nos oferece a chave para entender como esse processo corrói a democracia em sua raiz: sem conflito, sem antagonismo, sem capacidade de dizer não, a democracia se torna espetáculo vazio, ritual inofensivo, incapaz de enfrentar as desigualdades estruturais que a ameaçam. A positividade tóxica, nesse quadro, é aliada perfeita do neoliberalismo, pois transforma cidadãos em performers satisfeitos, sempre sorrindo, sempre resilientes, sempre inofensivos.
O materialismo histórico-dialético, por sua vez, devolve a esses fragmentos a possibilidade de se recompor em força histórica viva. Ele nos recorda que a vulnerabilidade, longe de ser vergonha, pode ser motor de solidariedade, porque expõe a dependência mútua que estrutura toda forma de vida humana. Resgatar a política significa, pois, resgatar o direito de sofrer coletivamente, de transformar essa dor em palavra pública, de erguê-la como bandeira para a ação e a organização.
No lugar da positividade obrigatória, ergue-se, então, a recusa como ato inaugural de reconstrução do comum. O dissenso não destrói a democracia. Ao contrário, a funda. E sem dissenso, resta apenas a solidão gerencial do neoliberalismo, onde cada um afunda em seu próprio sorriso, sem sequer ter a quem pedir socorro.
Articulação dialética: síntese e negação radical

Todas as vozes que ecoaram até aqui, Marx, Gramsci, Byung-Chul Han, Mark Fisher, Wendy Brown, nos ajudam a decifrar a positividade compulsória como uma engrenagem cuidadosamente forjada para proteger o capital de seu maior risco: o risco da negação.
No solo da exploração, a positividade nasce como ideologia funcional, pois impede que a dor se organize em discurso, que o discurso se organize em movimento, que o movimento se organize em práxis transformadora. Se toda angústia vira falha individual, se toda indignação vira negatividade patológica, então não há conflito, e sem conflito, não há história.
O materialismo histórico-dialético nos oferece o gesto mais profundo e corajoso: recusar a naturalização desta positividade como um dado eterno da condição humana. Ele nos obriga a olhar para a positividade não como escolha moral, mas como resultado de processos materiais, históricos e de classe. Nos obriga a perguntar: a quem serve a positividade? E a resposta emerge cristalina, ela serve ao capital, que precisa de corpos dóceis e mentes domesticadas, de afetos domesticáveis e sonhos colonizados.
É nesse ponto que a negação radical se impõe como urgência histórica. Porque negar não é sinônimo de destruição estéril; ao contrário, negar é afirmar a possibilidade de outro mundo. O dissenso é a fagulha que reacende a imaginação política, que resgata a solidariedade como forma de resistência, que restitui à dor coletiva sua dignidade e seu poder.
A positividade compulsória destrói a política ao extirpar o dissenso. Romper esse cerco significa devolver à política sua condição originária de conflito, de disputa, de antagonismo legítimo entre projetos de sociedade. O sorriso imposto pelo capital não é a paz — é a paz dos cemitérios, onde não há vozes, não há histórias, não há sonhos.
Cabe a quem ainda deseja emancipação erguer o não, mas um não dialético: aquele que se levanta não apenas contra, mas também para o comum, para a dignidade, para a liberdade, para a reconstrução de uma humanidade que se recusa a ser reduzida à performance de si.
Eis o desafio que nos resta: restaurar o dissenso como motor da democracia, devolver à negação seu lugar de honra na história, rasgar o véu anestésico da positividade tóxica e resgatar a potência viva do coletivo. Porque só na recusa nasce a possibilidade do novo. E porque, como nos ensinou Marx, a história avança não pela harmonia, mas pela força criadora do conflito.
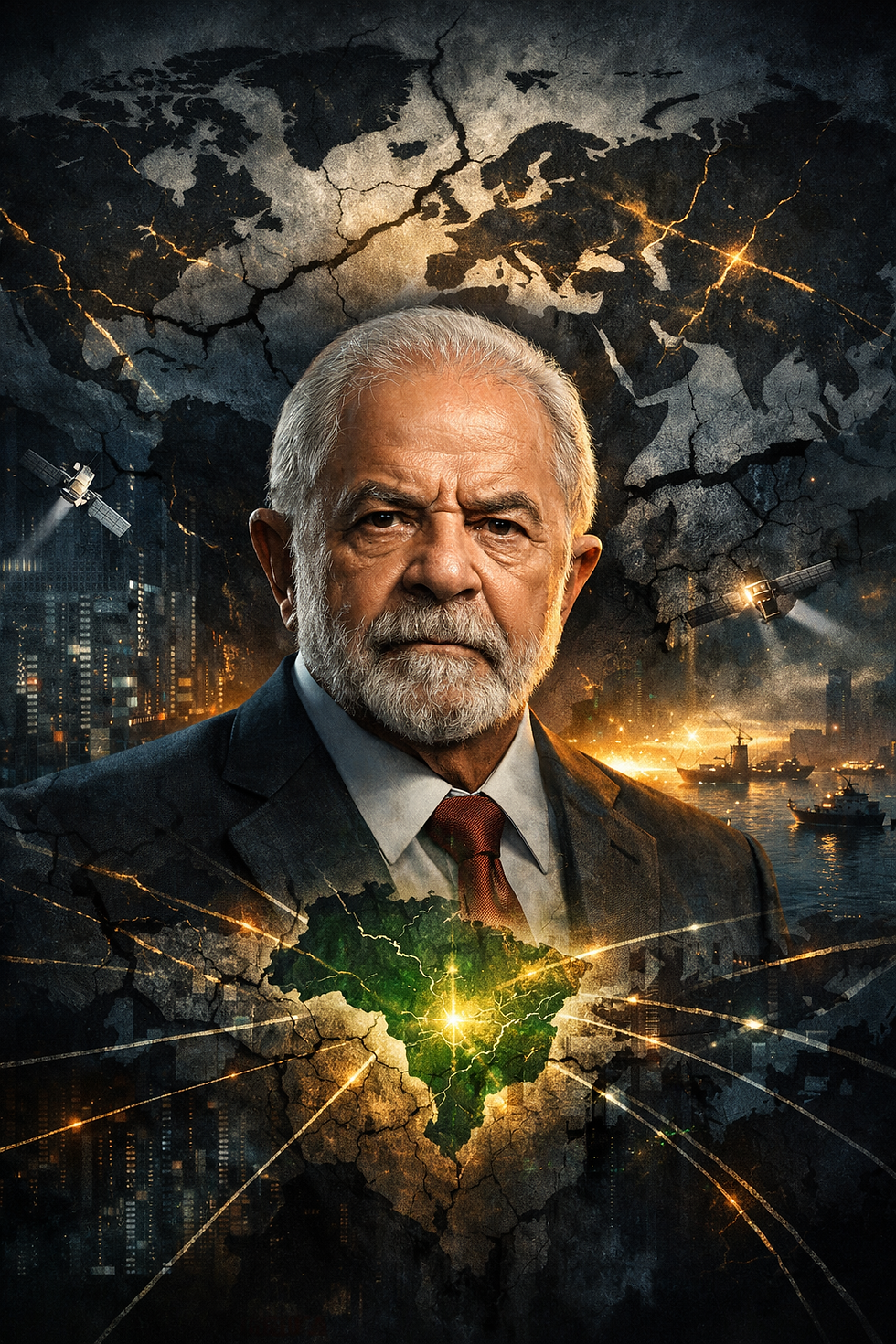



Comentários