Como as big techs lucram com a pedofilia
- 10 de ago. de 2025
- 19 min de leitura
Atualizado: 12 de ago. de 2025
Um documentário que viralizou nas redes escancarou como as maiores empresas de tecnologia do mundo lucram com a exploração sexual infantil. A investigação mostra que seus algoritmos recomendam, monetizam e amplificam conteúdos abusivos, transformando a violência contra crianças em um negócio bilionário protegido pela impunidade
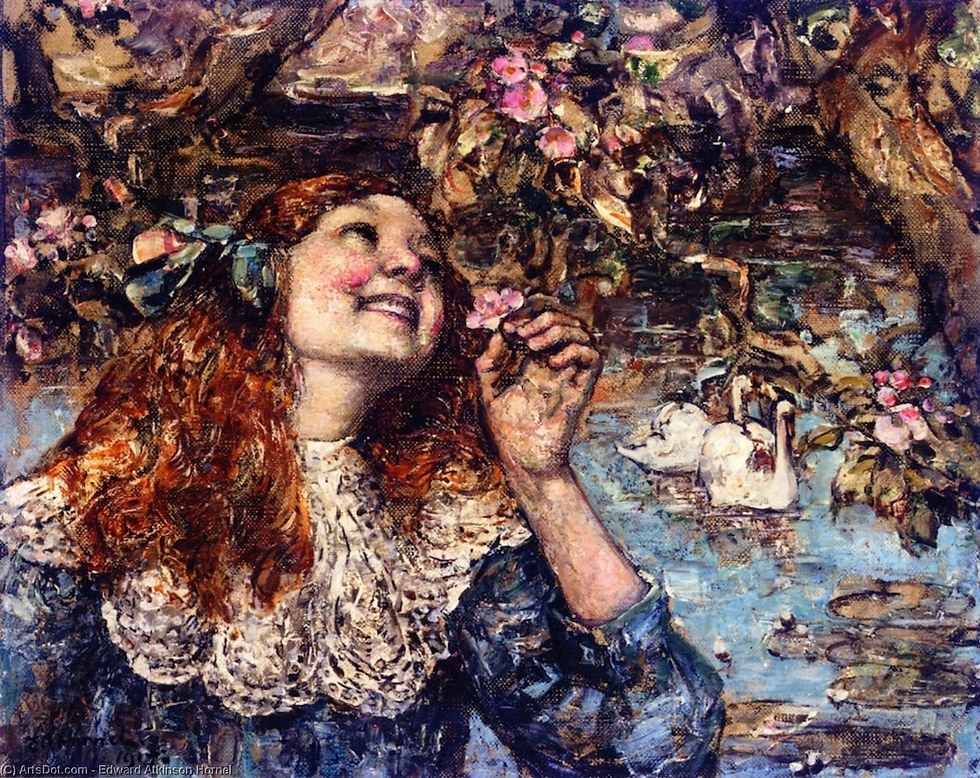
Todas as imagens deste ensaio são pinturas de Edward Atkinson Hornel
Ponto de partida

Lançado em 8 de agosto de 2025 no YouTube, o documentário Adultização provocou forte repercussão ao revelar como as redes sociais e seus algoritmos alimentam e lucram com a exposição e sexualização de crianças. Produzido pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, o vídeo de quase uma hora marcou uma virada em sua trajetória, até então centrada no humor, e apresentou casos concretos como o do influenciador Hytalo Santos, acusado de explorar menores para gerar engajamento. Hytalo, que acumulava mais de 17 milhões de seguidores, teria usado adolescentes em conteúdos com conotação sexual, incluindo a influenciadora mirim Kamylinha, que foi emancipada aos 16 anos para colocar próteses de silicone, transformando a cirurgia em material de entretenimento. Com dados, trechos de vídeos e a análise de uma psicóloga especializada, Felca apontou que criadores de conteúdo monetizam cada visualização, comentário ou compartilhamento, mesmo quando isso significa lucrar com a violência.
O documentário pode ser visto aqui:
1. A denúncia que rompeu o silêncio conveniente

O documentário de 50 minutos que serve de ponto de partida para este ensaio apresenta um conjunto articulado de denúncias sobre a exploração da imagem de crianças e adolescentes em redes sociais, com ênfase no papel das plataformas digitais na formação e sustentação desse mercado. Produzido por um criador de conteúdo brasileiro, o vídeo mostra de forma prática como o algoritmo do YouTube recomenda conteúdos potencialmente atrativos para pedófilos, além de trazer a entrevista de uma psicóloga especializada que discute os riscos dessa exposição para a saúde mental e o desenvolvimento infantil. Ao reunir provas, contextos e explicações, a obra rompe com a abordagem fragmentada e episódica que costuma marcar a cobertura do tema.
O alcance da denúncia feita por Felca foi tão expressivo que o criador de conteúdo anunciou ter movido ações judiciais contra mais de 200 pessoas por difamação, declarando que todo o montante obtido será destinado a organizações beneficentes. Como alternativa para encerrar as disputas judiciais, propôs que cada acusado contribua com R$ 250 para as entidades indicadas e faça um pedido público de desculpas. A repercussão foi tão intensa que atraiu até grandes perfis, como o do deputado Nikolas Ferreira, que publicou: “Felca mexeu no vespeiro. Na época da ilha do Marajó fiz um vídeo, arrecadamos muito pra ajudar e a mídia ficou literalmente calada sobre. Que Deus abençoe ele nessa jornada. Não será fácil.”
O caso citado por Nikolas, o chamado “escândalo de Marajó”, foi, na realidade, um dos maiores exemplos de pânico moral fabricado por fake news da extrema direita no Brasil. Em 2022, a ex-ministra Damares Alves e aliados políticos divulgaram vídeos e discursos alarmistas sobre uma suposta exploração sexual infantil generalizada na ilha. O tom das falas, carregado de imagens fortes e frases de efeito, sugeria que toda a população local estava imersa em um cenário quase apocalíptico. Nada disso foi sustentado por levantamentos oficiais ou estudos. A narrativa ignorou causas estruturais como pobreza, ausência de políticas públicas e vulnerabilidade social, substituindo a complexidade por um enredo simplista, ideal para mobilizar indignação e capital político.
Essa estratégia ilustra o que especialistas chamam de pânico moral: a criação midiática e política de uma ameaça urgente e generalizada, frequentemente exagerada ou fabricada, usada para justificar ações e fortalecer grupos específicos. Em Marajó, ela teve efeitos duplamente nocivos, pois desinformou a população e estigmatizou injustamente seus moradores, desviando o foco das soluções reais. A diferença é que, enquanto Nikolas e Damares exploraram o tema de forma genérica e politicamente conveniente, Felca apresentou nomes, dados e contextos, prestando, mesmo sem cargo público, um serviço mais relevante à verdade do que muitos parlamentares que usam a causa apenas como palanque.
A partir desse contraste, torna-se possível compreender por que o documentário gerou tanta reação. Ele não apenas expôs casos concretos, mas também sugeriu, ainda que implicitamente, que o problema é sistêmico e atravessa a própria lógica de funcionamento das plataformas digitais. É essa dimensão estrutural, e não apenas a denúncia pontual, que será aprofundada nos capítulos seguintes.
2. A formação de vulnerabilidades no ambiente digital

A exposição digital precoce de crianças e adolescentes não é apenas um fenômeno sociocultural, mas um processo que atua diretamente sobre a formação de circuitos cerebrais relacionados à recompensa, à regulação emocional e à construção da autoestima. Estudos de neurociência apontam que comentários positivos, curtidas e outras formas de validação social acionam o sistema dopaminérgico, criando um padrão de dependência de estímulos externos para a sensação de valor pessoal. Essa retroalimentação artificial, quando iniciada antes do amadurecimento neuropsicológico, pode consolidar vulnerabilidades emocionais duradouras, tornando a criança mais suscetível a manipulações e reforços negativos. Piaget descreve a ausência de maturidade cognitiva impede que a criança compreenda plenamente a intenção por trás de determinados estímulos, tornando-a mais vulnerável a reforços artificiais. Nesse sentido, a mediação proposta por Lev Vygotsky reforça que a interação social é decisiva na formação psíquica, o que, no contexto digital, significa que o algoritmo atua como um “outro” socialmente presente e influente. Eis o perigo.
No contexto das plataformas digitais, esses impactos são amplificados pela lógica de engajamento contínuo. A interação constante com desconhecidos, mediada por métricas visíveis e algoritmos de recomendação, gera um ambiente em que a aprovação, real ou simulada, se torna parâmetro de autoavaliação. Pesquisas presentes no material analisado demonstram que esse mecanismo pode distorcer a percepção de limites pessoais e de privacidade, reduzindo a capacidade de identificar situações de risco.
Ao mesmo tempo, a arquitetura técnica dessas plataformas revela um problema que vai além da negligência: a manutenção deliberada de brechas que favorecem práticas abusivas. Entre elas, está a ausência de marcação adequada de conteúdo como infantil, o que permitiria restringir ou desativar interações potencialmente nocivas, como seções de comentários. Ao não sinalizar corretamente esses vídeos, as empresas possibilitam que adultos enviem mensagens a crianças e adolescentes, criando um canal aberto para o grooming, estratégia de aproximação gradual usada por abusadores para conquistar a confiança da vítima.
Essas falhas, longe de serem meramente técnicas, se inserem na lógica de maximização do tempo de permanência e da circulação de dados, pilares do modelo de negócios das big techs. Cada comentário, mesmo abusivo, é contabilizado como engajamento, aumentando o alcance do conteúdo e, portanto, seu potencial de monetização. Isso significa que a própria dinâmica de mercado das plataformas transforma riscos à integridade física e psicológica de crianças em ativos econômicos.
Ao se compreender a engrenagem que liga a busca incessante por engajamento aos mecanismos de vulnerabilização neuropsicológica, torna-se evidente que a proteção da infância no ambiente digital não pode se limitar a iniciativas individuais de denúncia ou bloqueio. É necessário intervir no desenho do sistema, reorientando algoritmos e políticas internas para que deixem de privilegiar interações potencialmente abusivas em nome do lucro.
3. E o Lula, hein?

As narrativas sobre o governo Lula são moldadas como armas de uma guerra híbrida, em que a disputa não se dá apenas no campo político, mas também no terreno simbólico e informacional. O objetivo é produzir impacto emocional imediato, explorar fragilidades cognitivas e desviar a atenção do debate sobre políticas públicas concretas. Nesse ambiente, a extrema direita encontrou nas big techs um aliado estrutural, não por alinhamento formal, mas porque a arquitetura algorítmica dessas plataformas transforma sofrimento e indignação em capital político, midiático e financeiro.
O episódio da Ilha de Marajó, em 2023, é exemplo emblemático. Uma rede coordenada por líderes da extrema direita construiu um pânico moral sobre suposta exploração sexual infantil generalizada, sem apresentar provas robustas. As imagens e discursos alarmistas inundaram as redes, enquanto a pobreza, o isolamento e a ausência de políticas públicas na região eram deliberadamente apagados do enquadramento narrativo. Ao se apropriar de uma pauta sensível, a operação converteu a dor e o medo em recurso político e em ativo digital de alto engajamento, retroalimentado pelo algoritmo que premia conteúdo sensacionalista.
Dinâmica semelhante ocorreu nas falsas acusações de corte no Benefício de Prestação Continuada e na polêmica em torno da pensão para crianças com hidrocefalia. As distorções circularam em velocidade exponencial, alcançando milhões de pessoas antes que o governo pudesse apresentar dados e explicações. O custo de reagir, nesse tipo de guerra, é sempre maior que o de atacar: cada tentativa de esclarecimento enfrenta não só a desconfiança cultivada pelo adversário, mas também a lógica de distribuição das plataformas, que privilegia conteúdos polarizadores em detrimento de informações técnicas.
Até mesmo quando a primeira-dama Janja colocou em pauta, diante do presidente da China, a necessidade de enfrentar a exploração infantil no TikTok, a operação de desinformação agiu para deslocar o foco. Em vez de discutir a urgência da regulação das plataformas, o debate público foi direcionado para questionar o papel e a influência da primeira-dama. O conteúdo estratégico da pauta foi eclipsado por uma guerra de percepções cuidadosamente estimulada por influenciadores e amplificada por sistemas de recomendação que lucram com o conflito.
O impacto dessas mentiras não é apenas reputacional. Elas corroem a capacidade do governo de conduzir agendas estruturais, drenam energia política para o terreno da reação e consolidam um ciclo perverso. A extrema direita gera narrativas de choque, as big techs distribuem e monetizam o conteúdo, a base radicalizada converte indignação em mobilização, e o governo se vê preso na defensiva, incapaz de competir na mesma escala de velocidade e alcance. No centro desse ciclo, a exploração do sofrimento infantil é instrumentalizada como recurso de guerra, transformando direitos humanos em moeda de troca no mercado da atenção.
Romper esse ciclo exige mais do que respostas pontuais a ataques coordenados. É uma disputa estratégica por soberania informacional, capaz de reconfigurar a arquitetura pela qual a atenção pública é capturada e explorada. A soberania não se limita a garantir infraestrutura tecnológica nacional ou criar legislação de proteção de dados. Ela precisa incorporar mecanismos para impedir que pautas sensíveis, como a proteção da infância, sejam sequestradas por operações de guerra híbrida. Isso significa estabelecer marcos regulatórios que responsabilizem plataformas pela monetização de conteúdos que exploram sofrimento e violência, criar protocolos de resposta rápida para desinformação massiva e investir em sistemas públicos de comunicação digital que não dependam da lógica de engajamento predatório.
A luta pela soberania também exige a integração entre política externa e política de comunicação. Sem coordenação com outros países que enfrentam problemas semelhantes, a regulação local tende a ser contornada por corporações transnacionais. Por isso, o fortalecimento de alianças no Sul Global e a participação ativa em fóruns internacionais são essenciais para reduzir a assimetria de poder normativo que permite que big techs operem com padrões distintos em mercados periféricos.
Mais do que uma medida técnica, essa é uma escolha política e civilizatória. Ao retirar a infância da lógica de acumulação de dados e engajamento, o Estado não apenas protege um grupo vulnerável, mas desafia o próprio modelo econômico que sustenta a simbiose entre extrema direita e plataformas digitais. É nessa fronteira que se define se a agenda de proteção à infância será mais uma ferramenta de guerra simbólica ou se se tornará um pilar real de soberania nacional.
4. A adultização que veste uniforme de trabalho
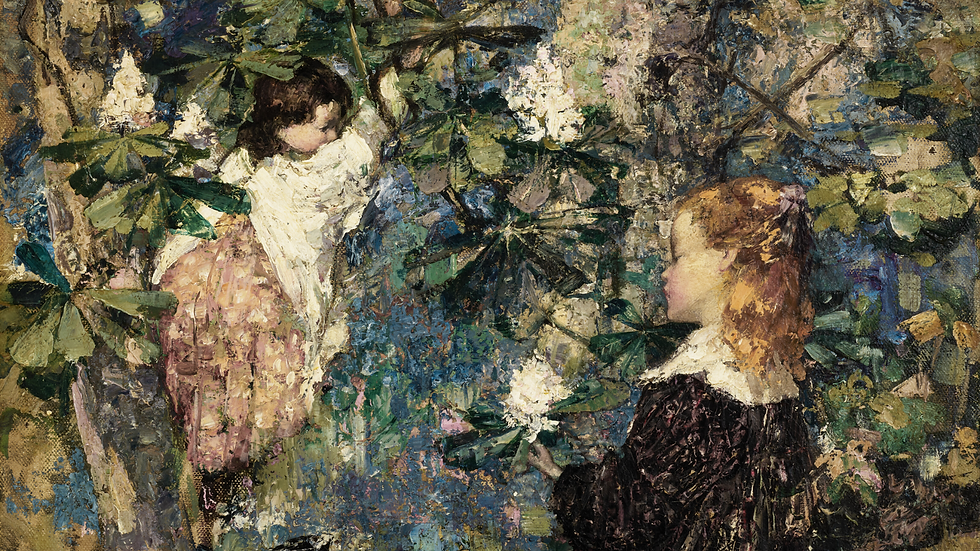
A sexualização infantil costuma provocar comoção pública imediata, pois expõe de forma crua a engrenagem obscura que alimenta redes de pedofilia e exploração sexual. Já o trabalho infantil, embora igualmente destrutivo, raramente desperta a mesma reação coletiva. Muitas vezes é percebido com indulgência ou até romantizado, como se carregar peso, trabalhar em lavouras ou vender nas ruas fosse apenas uma etapa natural da vida de crianças pobres. Essa diferença de percepção revela o quanto a adultização, em suas múltiplas formas, é seletivamente reconhecida e denunciada, permitindo que uma de suas faces mais brutais, a que veste uniforme de trabalho, siga invisibilizada e normalizada.
Essa realidade é sustentada por um arranjo ideológico que combina neoliberalismo, teologia da prosperidade, campanhas de desinformação contra direitos trabalhistas e sociais, articulação das bancadas conservadoras e lobby empresarial.
Segundo dados do Ministério do Trabalho, de 2023 a abril de 2025 foram resgatadas cerca de 6.372 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Brasil. Esse número, que representa apenas os casos identificados, expõe uma face visível de um problema que permanece naturalizado. O discurso neoliberal insiste em apresentar o trabalho precoce como ferramenta de responsabilização e formação de caráter, reforçado por lideranças religiosas que transformam o sacrifício em virtude moral. Essa narrativa é funcional a uma elite econômica que lucra com a precarização e resiste a qualquer avanço na fiscalização e na proteção social.
A situação é ainda mais dramática na República Democrática do Congo, onde cerca de 40 mil crianças trabalham em minas de cobalto, algumas por até 14 horas diárias, em condições insalubres e perigosas. Esse mineral é essencial para baterias recarregáveis usadas em smartphones, computadores e veículos elétricos. Multinacionais como Apple, Microsoft, Tesla e Google já foram apontadas em investigações internacionais como beneficiárias diretas dessa exploração, operando cadeias de fornecimento estruturadas sobre a violação sistemática de direitos humanos.
O elo entre exploração física e exploração simbólica é evidente. As big techs não apenas integram cadeias produtivas que se alimentam do trabalho infantil, como também administram plataformas digitais que normalizam ou romantizam o trabalho precoce. Vídeos que mostram crianças vendendo nas ruas ou trabalhando em atividades domésticas para ajudar a família são convertidos em conteúdo monetizado, viralizando em função da lógica de engajamento. O algoritmo, indiferente à violação de direitos, recompensa o que gera cliques, transformando vulnerabilidade em mercadoria.
A adultização pelo trabalho infantil, seja no sertão brasileiro ou nas minas africanas, revela uma engrenagem global que captura a infância como recurso. É um sistema sustentado por conivências políticas e empresariais, que se fortalece na ausência de soberania informacional e econômica. Romper esse ciclo exige uma disputa direta contra as narrativas que justificam o trabalho precoce, o fortalecimento da fiscalização, a responsabilização de corporações em toda a cadeia de valor e a criação de alternativas econômicas que não dependam da exploração da infância. Só assim será possível retirar crianças da condição de força de trabalho barata e devolvê-las ao lugar que lhes pertence, o da proteção, da educação e do tempo livre como direitos inegociáveis.
5. O lucro com a violência contra crianças e o papel do algoritmo como coautor

O documentário mostra, com dados e experimentos práticos, que a exploração sexual infantil online não é um acidente isolado, mas um segmento lucrativo do modelo de negócios das plataformas. As interações (visualizações, comentários, compartilhamentos e até denúncias) alimentam o sistema de recomendação e geram receita.
Esse ponto encontra respaldo no trabalho de Danielle Dutra Soares, que enfatiza que “o ambiente virtual tornou-se propício para a exploração sexual infantil” e que a “busca por cliques, curtidas e seguidores leva à naturalização da exposição sexualizada” das crianças. A autora acrescenta que, ao não alterar os mecanismos de monetização, as plataformas acabam “perpetuando a violação dos direitos infantojuvenis”.
O estudo publicado na revista Lepidus reforça que, no ecossistema digital, “o corpo infantil, especialmente o feminino, é transformado em mercadoria, sendo exposto para consumo visual e simbólico”. Esse consumo visual é lucrativo não só para influenciadores, mas para toda a cadeia publicitária que opera sobre os dados gerados.
Relatórios sobre ética digital incluídos no material que você enviou indicam que essa dinâmica decorre da “estrutura algorítmica voltada para a maximização do engajamento, mesmo que isso implique a circulação de conteúdo nocivo”. Isso significa que a lógica que impulsiona a recomendação de vídeos é a mesma que sustenta nichos predatórios, como o de pedófilos.
Nesse ecossistema digita, o algoritmo ocupa uma posição que ultrapassa a função de organizador neutro de conteúdos. Ele é mediador ativo de interações, capaz de induzir comportamentos, estabelecer associações e moldar circuitos inteiros de atenção. Essa arquitetura técnica, apresentada frequentemente como inovação inevitável, constitui na prática um mecanismo de seleção e priorização que interfere diretamente nas relações sociais e culturais. Quando aplicada à infância, essa mediação molda padrões de comportamento e expectativas que não correspondem ao estágio de desenvolvimento das crianças, deslocando-as para papéis que antecipam responsabilidades e sexualizam precocemente sua imagem. Winnicott argumenta que o ambiente deve ser suficientemente bom para permitir que a criança se desenvolva de forma segura. Nas redes, o “ambiente” projetado pela arquitetura algorítmica compromete essa função protetiva, pois prioriza o engajamento mesmo quando este resulta de conteúdos prejudiciais.
O resultado desse processo não é acidental. Estudos demonstram que o lucro e a visibilidade se sobrepõem à segurança e ao bem-estar infantis, o que torna previsível que sistemas de recomendação priorizem conteúdos que, mesmo prejudiciais, aumentem o engajamento. Assim, vídeos que expõem crianças em contextos ambíguos ou sexualizados encontram terreno fértil para sua difusão, pois respondem a uma lógica econômica que recompensa a atenção obtida, independentemente de seu caráter ilícito ou danoso.
As reflexões de Reynaldo Aragon sobre a lógica do capitalismo de fricção zero ajudam a compreender essa engrenagem. Em sua análise da guerra informacional e do controle algorítmico, o autor descreve o algoritmo como um comando invisível que reorganiza disputas políticas e econômicas sem a necessidade de uma mediação humana explícita. Essa capacidade de operar sob a aparência de neutralidade técnica é o que permite sua inserção em múltiplos mercados, inclusive aqueles cuja existência depende de violar direitos fundamentais. Ao lado das campanhas eleitorais e da manipulação simbólica de massas, a exploração sexual infantil online insere-se no mesmo mecanismo de rentabilização de dados e interações, convertendo a própria violência em mercadoria.
A previsibilidade do dano, associada à inação sistemática das empresas em modificar a arquitetura de recomendação, aproxima o algoritmo de uma autoria compartilhada. Não se trata apenas de falha de monitoramento ou omissão regulatória, mas de um projeto técnico-econômico no qual a manutenção de nichos predatórios é funcional à lógica de acumulação. Nesse sentido, o algoritmo, longe de ser um instrumento passivo, participa como engrenagem indispensável de uma cadeia de valor que extrai lucro da degradação da infância.
6. Legislações, lacunas e a geopolítica da proteção infantil
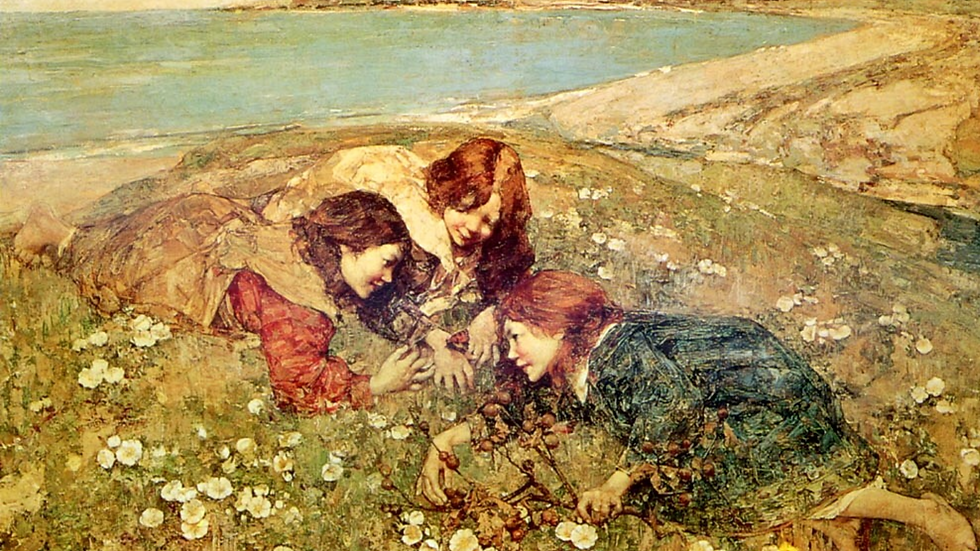
A proteção da infância no ambiente digital encontra-se diante de um paradoxo jurídico e político. De um lado, marcos legais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) reconhecem a vulnerabilidade das crianças e estabelecem princípios de prioridade absoluta, consentimento qualificado e uso restrito de dados. De outro, o ambiente real das plataformas digitais opera em um espaço híbrido no qual a aplicação dessas normas se torna difusa, sujeita à interpretação fragmentada de autoridades nacionais e à resistência de empresas transnacionais que controlam a infraestrutura e os fluxos de informação.
A experiência internacional revela tentativas de fechar essas brechas. Nos Estados Unidos, o Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) estabelece limites para a coleta de dados de menores de 13 anos, embora seja amplamente criticado pela incapacidade de conter práticas indiretas de rastreamento e pela fragilidade na aplicação das sanções. A União Europeia, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), adota a idade mínima de 16 anos para consentimento no tratamento de dados, delegando aos Estados-membros a possibilidade de reduzi-la para 13. O Reino Unido, com o Age Appropriate Design Code, introduziu obrigações específicas para que o design das plataformas seja compatível com a proteção da infância, impondo padrões mais rigorosos para coleta, uso e compartilhamento de informações.
Apesar dessas iniciativas, persiste uma zona cinzenta no que diz respeito à responsabilização das plataformas pelo conteúdo que impulsionam. O estudo de Danielle Dutra Soares destaca que “a ausência de regulamentação efetiva e fiscalização das plataformas” é fator determinante para a manutenção de práticas de exposição sexualizada e adultização. No Brasil, mesmo com o Marco Civil da Internet e a LGPD, o desenho regulatório ainda se concentra na responsabilização do emissor direto do conteúdo, deixando em segundo plano a cadeia de monetização e o papel ativo do algoritmo. Essa omissão conecta-se à análise de Lawrence Lessig sobre como o código, aqui entendido como a arquitetura algorítmica, funciona como lei de fato, regulando comportamentos e práticas mais efetivamente do que normas jurídicas formais.
A dimensão geopolítica dessa lacuna é inescapável. As empresas que concentram o mercado global de redes sociais têm sede em países centrais e operam com padrões distintos de adequação às leis locais. Em mercados periféricos, como o Brasil, a assimetria de poder normativo permite que mecanismos predatórios de recomendação e monetização permaneçam praticamente intactos. A análise de Reynaldo Aragon sobre a dependência tecnológica e informacional da periferia global ilustra como essa assimetria é parte de um projeto mais amplo, no qual a soberania digital é sistematicamente enfraquecida para preservar a hegemonia das potências detentoras da infraestrutura e do capital de dados.
Essa arquitetura jurídica fragmentada, aliada à resistência corporativa e à falta de enforcement internacional, perpetua um cenário em que a exploração sexual infantil online continua sendo não apenas tolerada, mas lucrativa. Enquanto a responsabilização das plataformas não for tratada como questão de soberania informacional e proteção estratégica da infância, qualquer avanço legislativo corre o risco de se reduzir a um gesto declaratório, incapaz de alterar a lógica que converte a violência em ativo econômico.
7. Por uma regulação soberana e centrada na proteção da infância

A persistência da exploração sexual infantil no ambiente digital exige um enfrentamento que vá além das denúncias episódicas e das ações judiciais pontuais. Trata-se de reconfigurar o próprio campo de atuação das plataformas, deslocando a discussão da responsabilidade individual de usuários para a corresponsabilidade estrutural das empresas que projetam, operam e lucram com sistemas de recomendação que favorecem a circulação desse conteúdo.
Uma regulação soberana precisa estabelecer, no mínimo, cinco eixos estruturantes. Primeiro, a responsabilização objetiva das plataformas por todo conteúdo que, comprovadamente, tenha sido monetizado ou impulsionado por seus algoritmos, independentemente de remoção posterior. Segundo, a obrigatoriedade de auditorias independentes e periódicas nos sistemas de recomendação, com foco na detecção de padrões de circulação de imagens e vídeos envolvendo crianças. Terceiro, a criação de mecanismos de bloqueio proativo, que não dependam exclusivamente de denúncias de usuários, mas utilizem tecnologia de detecção associada a protocolos transparentes de exclusão e preservação de provas. Quarto, a vinculação das autorizações de operação das plataformas a políticas de compliance específicas para proteção infantil, com sanções que incluam a suspensão de atividades em caso de reincidência. Quinto, a inclusão das cadeias publicitárias e anunciantes na responsabilidade solidária, impondo restrições e multas proporcionais ao faturamento global.
A base para essas medidas encontra respaldo tanto na legislação nacional quanto em experiências internacionais. O ECA e a LGPD já oferecem fundamentos jurídicos para a proteção integral da criança, mas sua aplicação à realidade algorítmica exige atualização legislativa e fortalecimento dos órgãos reguladores. O pensamento de Stefano Rodotà ajuda a reforçar que a proteção de dados, especialmente de crianças, deve ser vista como um direito fundamental, inseparável da própria dignidade humana. Nesse sentido, as reflexões de Danilo Doneda sobre a LGPD demonstram que já há base legal para responsabilizar plataformas pelo tratamento indevido de dados infantis, faltando apenas aplicação rigorosa e adaptação às especificidades do ambiente algorítmico.
Modelos como o Age Appropriate Design Code britânico demonstram que é possível estabelecer padrões obrigatórios de arquitetura digital voltados à segurança infantil. No entanto, sua efetividade depende de integração com políticas públicas mais amplas de educação digital, fiscalização e soberania informacional.
A perspectiva soberanista, como analisada por Reynaldo Aragon, é decisiva para evitar que as regras nacionais sejam neutralizadas pela arquitetura global de poder digital. Isso significa adotar medidas técnicas e jurídicas que dificultem a externalização de dados e o esvaziamento da autoridade regulatória brasileira, fortalecendo parcerias Sul-Sul e organismos internacionais comprometidos com a proteção da infância.
Sem esse reposicionamento estratégico, qualquer tentativa de enfrentamento permanecerá subordinada à lógica de mercado das grandes corporações digitais, que operam com a certeza de que a degradação da infância pode ser contabilizada como um custo aceitável para manter o fluxo de capital e dados. A regulação, nesse contexto, não é apenas uma ferramenta jurídica, mas um ato político de afirmação de soberania e defesa da dignidade humana contra a mercantilização da vida.
8. Da denúncia à transformação estrutural

O documentário que motivou este ensaio é, antes de tudo, uma prova audiovisual de que a exploração sexual infantil nas plataformas digitais não é exceção nem acidente, é uma consequência previsível de um modelo de negócios que transforma atenção em lucro, mesmo quando essa atenção se ancora na violação mais grave dos direitos humanos. Ao expor a engrenagem que liga influenciadores, algoritmos e mercados de pedofilia, o vídeo rompe a barreira do que costuma ser tratado como “casos isolados” e revela a dimensão sistêmica do problema.
No entanto, a potência dessa denúncia não está apenas na capacidade de gerar indignação. Ela reside na possibilidade de catalisar um debate político sobre a responsabilidade das plataformas e sobre a necessidade de reverter a lógica de mercantilização da infância. É aqui que a narrativa individual se converte em pauta pública: a mesma arquitetura algorítmica que distribui conteúdos de ódio e manipula processos democráticos é aquela que lucra com a sexualização e a exposição precoce de crianças.
Shoshana Zuboff denomina “capitalismo de vigilância”, no qual cada interação é convertida em dado para monetização, independentemente de seu caráter ético ou lícito. Ao mesmo tempo, como adverte Safiya Umoja Noble, algoritmos não são neutros e tendem a reproduzir, amplificar e lucrar com preconceitos e estruturas de opressão já existentes.
Esse elo entre a economia da atenção e a exploração infantil evidencia que a disputa não se limita ao campo jurídico ou moral. Trata-se de uma questão de soberania informacional e de autodeterminação tecnológica, na qual o Brasil e outros países periféricos precisam romper com a dependência estrutural das corporações que controlam o fluxo global de dados. Como aponta Reynaldo Aragon, a assimetria entre centro e periferia no capitalismo de fricção zero não é apenas econômica, mas também epistêmica: quem define as regras do jogo digital determina quais vidas serão protegidas e quais poderão ser exploradas.
A urgência, portanto, não é apenas punir os responsáveis diretos, mas desmantelar a cadeia de valor que sustenta esse nicho criminoso. Isso implica responsabilizar anunciantes, alterar radicalmente o design de recomendação e impor restrições concretas à extração e circulação de dados de crianças. Significa, também, que qualquer regulação deve ser concebida como parte de um projeto mais amplo de defesa da infância e reconstrução da mediação pública no espaço digital.
Enquanto a violência sexual contra crianças puder ser monetizada e distribuída globalmente em frações de segundo, nenhuma lei ou denúncia isolada será suficiente. O desafio é político, técnico e civilizatório: fazer com que a infância deixe de ser uma variável de ajuste nos cálculos do capital e passe a ser, de fato, prioridade absoluta, como prometem as legislações, mas raramente cumprem.
9. Referências

AMANDA, S. M.; DELCIDES, S. N. Adultização e erotização da criança: uma análise discursiva de comentários nas mídias sociais. In: FERNANDES JÚNIOR, A.; FRANCESCHINI, B.; SANTANA, S. C. B. (org.). Análise do discurso na contemporaneidade: cartografias discursivas. Rio de Janeiro: Bonecker, 2019. p. 31-46.
ARAÚJO, F. F. et al. As mídias sociais e a erotização infantil. In: XXXVIII SEMANA ACADÊMICA DA PEDAGOGIA, 38., 2014, Erechim. Educação e cidadania: perspectivas atuais. Erechim: URI, 2014. p. 115-127.
ARAGON, Reynaldo. Algoritmos, fricção zero e o colapso da subjetividade. Jornal GGN, 14 nov. 2024. Disponível em: https://jornalggn.com.br/ciencia/algoritmos-friccao-zero-e-o-colapso-da-subjetividade-por-reynaldo-aragon/. Acesso em: 10 ago. 2025.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Mais de 6 mil vítimas de trabalho infantil foram resgatadas entre 2023 e 2025. Brasília, 10 jun. 2025. Disponível em: https://noticias.r7.com/brasilia/mais-de-6-mil-vitimas-de-trabalho-infantil-foram-resgatadas-entre-2023-e-2025-10062025. Acesso em: 10 ago. 2025.
DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais: elementos da formação da Lei Geral de Proteção de Dados. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.
GOMES, C. B. T. Conteúdos direcionados a crianças e adolescentes nas redes sociais: um problema ético. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS; ENCONTRO DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2024, São Carlos. Anais... São Carlos: UFSCar, 2024.
GOES, Sara; JOCHIMSEN, Paola. A teologia do sofrimento infantil: a infância na guerra cultural da extrema direita. Brasil 247, 2025. Disponível em: https://www.brasil247.com/blog/teologia-do-sofrimento-infantil-a-infancia-na-guerra-cultural-da-extrema-direita. Acesso em: 10 ago. 2025.
GOES, Sara. O fim da infância (como conhecemos). Código Aberto, 2025. Disponível em: https://www.codigoaberto.net/post/o-fim-da-infancia-como-conhecemos. Acesso em: 10 ago. 2025.
GOPAL, S. Children in the mines: the devastating cycle of child labor in the DRC and its impact on education and economic mobility. Floodlight Global, 24 fev. 2025. Disponível em: https://floodlightglobal.com/children-in-the-mines-the-devastating-cycle-of-child-labor-in-the-drc-and-its-impact-on-education-and-economic-mobility/. Acesso em: 4 abr. 2025.
GROSS, T. How ‘modern-day slavery’ in the Congo powers the rechargeable battery economy. NPR Illinois, 1 fev. 2023. Disponível em: https://www.nprillinois.org/2023-02-01/how-modern-day-slavery-in-the-congo-powers-the-rechargeable-battery-economy. Acesso em: 12 abr. 2025.
HUMANIUM. The current state of child labour in cobalt mines in the Democratic Republic of the Congo. [S. l.], 2023. Disponível em: https://www.humanium.org/en/the-current-state-of-child-labour-in-cobalt-mines-in-the-democratic-republic-of-the-congo/. Acesso em: 10 ago. 2025.
LESSIG, Lawrence. Code: and other laws of cyberspace. New York: Basic Books, 1999.
MULLER, J. W.; SCHMIDT, S. P. Pequenas estrelas do Instagram: a erotização de meninas em uma rede social. Revista Conhecimento Online, Novo Hamburgo, a. 10, v. 3, ed. especial, p. 101-121, out. 2018. DOI: https://doi.org/10.25112/rco.v3i0.1603.
NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: New York University Press, 2018.
OLIVEIRA, E. S. et al. Influência das mídias sociais no processo de erotização infantil: fator determinante para um processo precoce da adultização?. Revista Lepidus, v. 8, n. 1, p. 1-14, ago. 2022.
PIAGET, Jean. A psicologia da criança. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
PRESTES, L. M.; FELIPE, J. Entre smartphones e tablets: pedofilia, pedofilização e erotização infantil na internet. Pesquisa em Foco, São Luís, v. 20, n. 2, p. 4-20, 2015.
ROCHA, Á. N. S.; FERREIRA, B. M. Adultização precoce nas mídias contemporâneas: por onde anda a responsabilidade familiar?. Revista Acadêmica Educação e Cultura em Debate, v. 9, n. 1, p. 98-113, 2023.
RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
SOARES, D. D. A monetização da exposição infantil nas redes sociais: a adultização do menor e o dever de sustento familiar. Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 166-181, 2023.
SOUSA, A. L. et al. Influência midiática na adultização e erotização e as implicações no desenvolvimento infantil. Fortaleza: Centro Universitário Ateneu, 2023.
VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
WIRED. Apple and Microsoft may use cobalt dug by kids, report says. [S. l.], 2016. Disponível em: https://www.wired.com/2016/01/apple-and-microsoft-may-use-cobalt-dug-by-kids-report-says/. Acesso em: 10 ago. 2025.
WINNICOTT, Donald W. O ambiente e os processos de maturação: estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Porto Alegre: Artmed, 1983.
ZUBOFF, Shoshana. The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power. New York: PublicAffairs, 2019.





Comentários