Entre o golpe e a soberania
- Rey Aragon

- 15 de jul. de 2025
- 19 min de leitura
Atualizado: 16 de jul. de 2025

Como Governo e Instituições Reagiram à Nova Ofensiva da Extrema-Direita em 2025
Enquanto a extrema-direita racha e insiste no caos, uma nova sincronia silenciosa emerge no campo democrático. Em meio à guerra híbrida permanente, o Brasil começa — enfim — a reagir com estratégia. Este artigo analisa, com profundidade e sem ilusões, como o governo, o STF, a PGR e a diplomacia articularam uma das mais sofisticadas respostas institucionais desde 2005.
A guerra invisível continua.
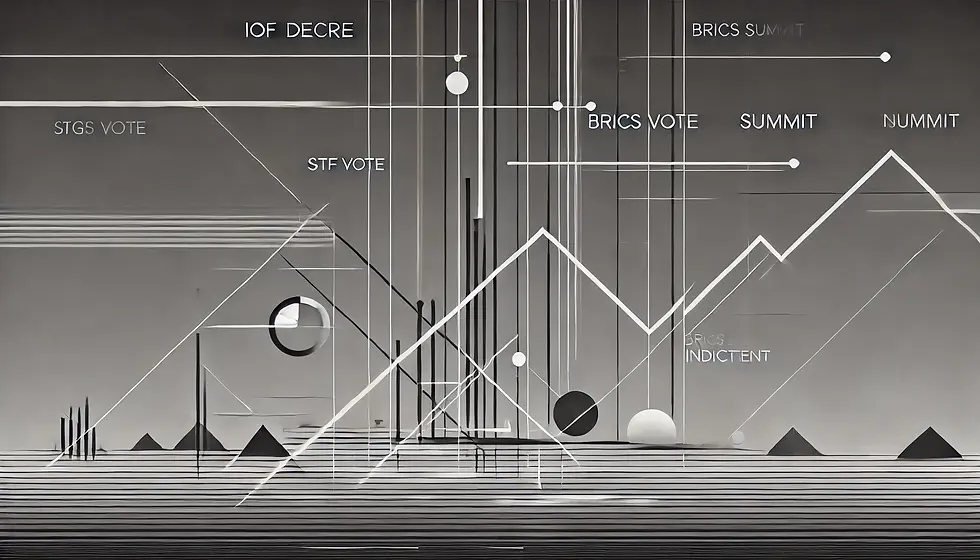
Não é mais possível compreender a política brasileira contemporânea fora da lógica da guerra. Não a guerra tradicional, com tanques e baionetas, mas a guerra de quarta geração: difusa, psicológica, cognitiva, midiática, jurídica, algorítmica. Desde 2005 — quando o Brasil rompeu com a ALCA e iniciou um ciclo de soberania que enfrentaria a fúria das potências imperiais — o país tornou-se, ainda que muitos não percebam, um dos principais laboratórios de guerra híbrida do século XXI.
O ano de 2025 escancara essa realidade com precisão cirúrgica. Entre os meses de maio e julho, um conjunto de eventos de altíssima tensão política, jurídica e econômica se desenrolou em sequência vertiginosa: aumento do IOF, crise com o Congresso, julgamento do Marco Civil da Internet, Cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, e a denúncia final da PGR contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Superficialmente, o que se viu foi mais uma escalada do conflito entre os campos antagônicos que dividem o Brasil. Mas sob a superfície, algo mais profundo e talvez inédito emergiu: o campo democrático e as instituições republicanas não apenas resistiram — como já haviam feito em outras ocasiões —, mas reagiram de forma coordenada, eficaz e, em alguma medida, estratégica.
A pergunta que este artigo se propõe a explorar é: essa sequência de acontecimentos foi produto do acaso ou da inteligência política? Teriam o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, o Itamaraty, o Palácio do Planalto e setores do Congresso finalmente compreendido a natureza contínua da guerra que enfrentam? E mais: estariam agora atuando dentro de uma lógica estratégica de contenção e contraofensiva, mesmo que informal e silenciosa?
Responder a essas questões não exige recorrer à paranoia nem à teoria da conspiração. Ao contrário, exige recuperar a materialidade dos fatos, a cronologia precisa, as tensões reais e as fraturas no campo adversário. Exige também compreender que, em tempos de guerra híbrida, o silêncio, o tempo e a sincronia podem valer mais do que mil discursos. O objetivo deste artigo é mapear essa janela histórica, descrever seus elementos, interpretar suas implicações e propor que, pela primeira vez em muito tempo, o grito da soberania voltou a ecoar com potência no centro da política brasileira — não como utopia distante, mas como resposta concreta à tentativa de destruição do país como projeto de Nação.
Nos próximos tópicos, será traçada a linha do tempo dos eventos mais relevantes entre maio e julho de 2025, examinando o modo como a extrema-direita buscou provocar o caos e como, surpreendentemente, as instituições se moveram com lucidez e sincronia rara. O Brasil, talvez, esteja aprendendo a guerrear.
Cronologia da janela tensa (maio–julho de 2025).
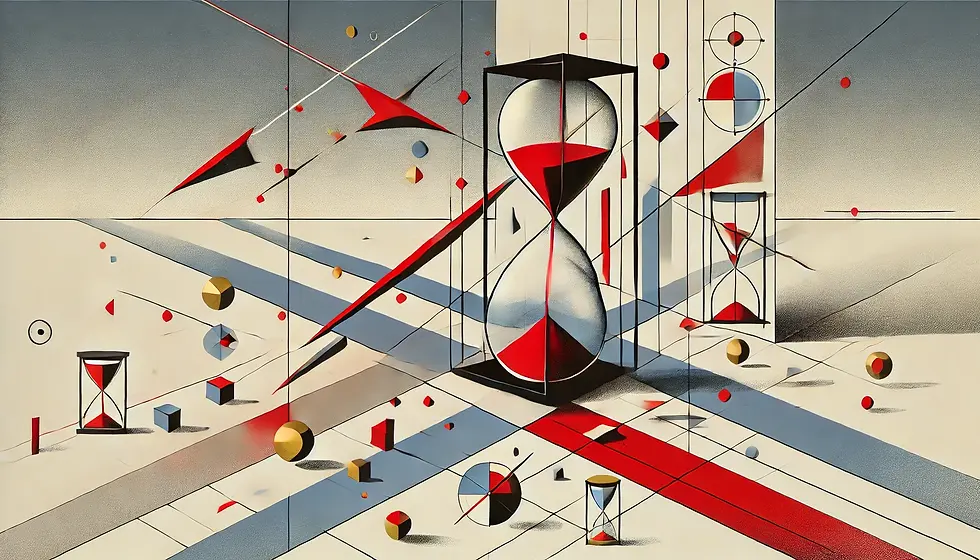
Entre os dias 22 de maio e 14 de julho de 2025, o Brasil atravessou um ciclo de intensa instabilidade política, econômica e institucional. O que à primeira vista poderia parecer apenas mais uma sequência de crises típicas da democracia brasileira — marcada por sabotagens parlamentares, tensões com o STF e polarização social — revelou, com o tempo, uma dinâmica muito mais profunda. Em plena ofensiva da extrema-direita, o campo democrático não apenas resistiu, mas parece ter operado com um grau inédito de sincronia institucional, eficácia política e reposicionamento simbólico. É neste intervalo de 53 dias que se inscreve uma das mais importantes viradas táticas da conjuntura recente.
O marco inicial desse ciclo é a publicação do Decreto nº 12.466/2025, em 22 de maio, que elevou as alíquotas do IOF com o objetivo de recompor a arrecadação em meio à desaceleração econômica global. Embora tecnicamente justificável, o decreto foi imediatamente explorado pela extrema-direita como arma narrativa. A oposição parlamentar, articulada por partidos como PL, Republicanos e parte do PP, acusou o governo de “atacar a classe média”, e iniciou uma mobilização para derrubar o decreto em nome da "responsabilidade econômica", ainda que a mesma responsabilidade tenha sido sistematicamente ignorada durante o bolsonarismo. O episódio deu início a uma campanha intensa de desgaste contra o governo Lula, com apoio da mídia corporativa e do mercado financeiro, ansiosos por brechas para desestabilizar a agenda progressista.
Enquanto o Executivo enfrentava esse cerco fiscal, o Supremo Tribunal Federal retomava, nos dias 4 e 5 de junho, o julgamento do Marco Civil da Internet. Adormecido por anos, o processo voltou à pauta no exato momento em que as plataformas digitais enfrentavam pressões crescentes por sua responsabilidade na difusão de desinformação, discursos de ódio e ataques à democracia. No dia 5, formou-se maioria pela responsabilização das plataformas, um marco jurídico e simbólico: o STF não apenas reafirmava seu papel de guardião da ordem constitucional, mas também assumia uma postura ativa no enfrentamento da guerra informacional que sustenta a lógica do caos bolsonarista. A decisão representou um revés direto à estratégia de impunidade algorítmica que vinha sendo defendida por setores reacionários e por conglomerados tecnológicos estrangeiros.
O terceiro momento desse ciclo ocorreu no dia 25 de junho, quando o Congresso Nacional, por ampla maioria, derrubou o decreto que aumentava o IOF. Foi, formalmente, uma derrota do governo. Mas, politicamente, o episódio teve outro efeito. O Executivo demonstrou habilidade ao aceitar a revogação com serenidade institucional, mantendo a compostura e evitando um confronto aberto que poderia paralisar a agenda econômica. Em vez de ser enfraquecido, Lula reforçou sua imagem de líder que respeita a democracia e dialoga com o Parlamento. Enquanto isso, a oposição radical se dividia. Eduardo Bolsonaro partia para o confronto direto, atacando o STF e seus antigos aliados, enquanto Tarcísio de Freitas buscava preservar sua imagem como alternativa moderada. O resultado foi a exposição pública de uma rachadura já latente no campo da extrema-direita, cada vez mais disfuncional.
Logo em seguida, nos dias 6 e 7 de julho, o Brasil sediou a XVII Cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. O evento teve importância geopolítica e simbólica inegável. Em meio ao cenário de ataques internos, o governo Lula recebia líderes e representantes das principais economias do Sul Global, reafirmando a aposta brasileira em um mundo multipolar, na desdolarização do comércio internacional, na soberania digital e na criação de mecanismos alternativos de governança tecnológica. A imagem projetada foi clara: enquanto a extrema-direita brasileira promovia o colapso simbólico, o governo se apresentava ao mundo como um ator articulador, defensor da paz e da soberania. A imprensa internacional, mesmo com ressalvas, reconheceu o papel central do Brasil no reposicionamento global do BRICS. E, internamente, a base lulista foi reforçada por um discurso de soberania que encontrou eco em amplos setores da sociedade civil, especialmente nos movimentos populares, sindicatos e coletivos antirracistas e anticoloniais.
O ciclo se encerra no dia 14 de julho, quando a Procuradoria-Geral da República apresenta denúncia formal contra Jair Bolsonaro e outros aliados diretos por tentativa de golpe de Estado, vinculada aos eventos de 8 de janeiro de 2023. O documento, construído com base em farta documentação e sustentação jurídica, representa a formalização institucional da narrativa democrática sobre os ataques golpistas. A partir deste ponto, o bolsonarismo não é apenas uma ameaça política — é um réu. E a denúncia não ocorre por acaso após a Cúpula do BRICS. Sua publicação marca uma inflexão temporal precisa: após o reposicionamento diplomático do Brasil como potência soberana, o sistema judicial sinaliza que também haverá responsabilização interna por crimes contra o Estado Democrático de Direito. É uma sinalização para o país — e para o mundo.
Essa sequência de eventos, articulada em apenas 53 dias, não pode ser reduzida ao acaso ou ao improviso. Ainda que parte dela tenha emergido de dinâmicas próprias — institucionais, jurídicas ou diplomáticas —, o que se observa é um padrão de sincronia estratégica entre atores distintos do campo democrático. STF, PGR, Itamaraty e Executivo operaram em ritmos complementares, sugerindo uma leitura mais sofisticada da conjuntura: o Brasil está em guerra — e parte do Estado parece ter começado a agir como tal.
O tempo político como ferramenta estratégica.

Em contextos de normalidade institucional, o tempo da política parece obedecer a calendários, ritos e previsibilidades: legislaturas, mandatos, sessões, comissões, campanhas, revezamentos. Mas em contextos de guerra híbrida — onde o objetivo do inimigo não é apenas vencer eleições, mas destruir a própria noção de Estado soberano — o tempo adquire outra densidade. Ele se torna uma ferramenta de guerra. E quem não entende o tempo como arma, torna-se refém de sua velocidade, de seus atalhos e de suas armadilhas.
A extrema-direita compreendeu isso muito antes do campo democrático. Bolsonaro, seus filhos e os generais que os cercavam operaram desde sempre com inteligência de guerra temporal: aceleraram narrativas, desestabilizaram calendários, anteciparam conflitos, adiaram crises, manipularam expectativas. O golpe fracassado de 8 de janeiro, por exemplo, não foi um erro de cálculo. Foi um experimento de temporização — testaram se havia ambiente social, político e institucional para desmantelar o regime democrático. O “timing” foi central: início de governo, clima de transição, mídia hesitante, e o trauma da pandemia ainda fresco. Falharam, mas deixaram lições.
A pergunta que se impõe agora é: teriam as instituições democráticas aprendido com esse manual? A análise da janela entre maio e julho de 2025 sugere que sim. Pela primeira vez desde o início da guerra cultural de longa duração iniciada em 2005, observa-se uma sequência de movimentos institucionais marcados por uso tático do tempo político. A denúncia da PGR não veio antes da Cúpula do BRICS, mas logo depois — como se fosse um contragolpe interno que se apoiava no reposicionamento externo do país. O julgamento do Marco Civil não veio no calor do 8 de janeiro, quando ainda havia incerteza e instabilidade, mas no momento em que a desinformação voltava a ganhar força como tática de sabotagem, e quando a Corte já percebia que havia respaldo político para avançar.
Esse uso estratégico do tempo também aparece na forma como o Executivo absorveu a derrota do IOF. Em vez de confrontar o Congresso, Lula e seus articuladores transformaram a derrota pontual em capital político. Deram tempo ao inimigo para se dividir. Deixaram Eduardo Bolsonaro radicalizar contra Tarcísio. Permitiram que a crise interna da extrema-direita se tornasse pública e caótica. E, ao final, ainda puderam se apresentar como governo que escuta, negocia e preserva a estabilidade institucional. Ganharam tempo — e com isso, ganharam terreno.
Essa sincronia não exige uma conspiração centralizada. Não se trata de sugerir um comitê secreto entre STF, PGR, Itamaraty e Planalto. O que se desenha, no entanto, é uma hipótese plausível e materialmente observável: setores do campo democrático passaram a operar com uma lógica estratégica mínima, em que o tempo não é mais apenas um dado externo, mas um instrumento político de disputa real. A racionalidade que emerge daí é de uma democracia que aprendeu a lutar com as armas do século XXI — não com discursos performáticos e declarações de intenções, mas com decisões sincronizadas, ações pontuais e domínio do ritmo da narrativa pública.
Há algo profundamente gramsciano nisso. Na guerra de posição, ensinava Antonio Gramsci, não se avança pela tomada de um palácio, mas pela ocupação progressiva de espaços estratégicos de hegemonia. Isso exige tempo, paciência, leitura de conjuntura e uso preciso da oportunidade. O Brasil, por décadas, teve instituições democráticas que reagiam de forma descoordenada, cíclica, muitas vezes inócua. Agora, parece haver um núcleo mínimo de inteligência que compreendeu o momento histórico. E, como disse Maquiavel, quando a virtù (a capacidade de agir) encontra a fortuna (a conjuntura), há possibilidade de mudança real.
A disputa pelo tempo é, afinal, uma disputa pela história. E a história que começa a se escrever nesse novo ciclo — ainda incerta, ainda ameaçada, ainda frágil — é a de um país que se recusa a ser laboratório do caos, e que começa, mesmo em meio ao fogo cruzado, a desenhar os contornos de uma soberania reconstruída pelo tempo e pela estratégia.
Fratura na extrema-direita: Bananinha vs. Tarcísio.

Se a guerra híbrida opera por múltiplas frentes — narrativa, jurídica, econômica, informacional —, ela também depende da coerência estratégica de seus operadores. No caso brasileiro, a extrema-direita conseguiu, por muito tempo, manter uma aparência de unidade discursiva que escondia suas divergências internas. Mas 2025 revelou o que já era perceptível nos subterrâneos: a máquina bolsonarista está rachada, desorganizada, sem liderança unificada e com sua lógica de guerra em colapso tático.
A disputa entre Eduardo Bolsonaro, o “bananinha”, e Tarcísio de Freitas não é apenas uma divergência de projeto eleitoral — é a expressão material de duas estratégias distintas dentro da extrema-direita. De um lado, a ala radicalizada, delirante, antissistema, que se recusa a reconhecer as regras mínimas da institucionalidade e continua operando sob a lógica do “quanto pior, melhor”. Essa ala, liderada por Eduardo, Carlos Bolsonaro e segmentos milicianos e teocráticos, aposta no colapso institucional como tática permanente. De outro lado, a ala tecnocrática, adaptada ao mercado, que tenta preservar a linguagem da ordem e manter algum vínculo com o establishment financeiro, empresarial e militar. Tarcísio, egresso da máquina de infraestrutura e ex-aliado de Bolsonaro, representa esse vetor.
Durante a crise do IOF e os julgamentos no STF, essa fratura se acentuou. Enquanto Eduardo Bolsonaro radicalizava contra o Supremo, atacava Alexandre de Moraes e repetia chavões anticomunistas, Tarcísio mantinha silêncio institucional, buscava acenos à moderação e evitava se associar ao núcleo golpista. A diferença entre ambos não é de princípios — ambos serviram ao mesmo projeto autoritário. A diferença está na avaliação de cenário: enquanto Eduardo insiste numa tática de confrontação total, Tarcísio aposta na recuperação da hegemonia pelo desgaste lento do governo Lula, sem romper totalmente com as instituições.
A ruptura se tornou irreversível quando setores do próprio PL passaram a defender a candidatura de Tarcísio à presidência em 2026 sem o aval do clã Bolsonaro. A extrema-direita já não é um bloco — é um campo em processo de fragmentação, onde interesses divergentes, vaidades em conflito e estratégias incompatíveis travam uma batalha interna. E o mais importante: essa disputa ocorre em público, sob os holofotes, com trocas de farpas nas redes sociais, vazamentos de bastidores e guerras de memes. A máquina de guerra que um dia operou com disciplina paramilitar virou um motim de facções digitais descoordenadas.
O campo democrático, por sua vez, soube aproveitar essa ruptura. Não ao estilo de quem aposta no “deixar sangrar”, mas com inteligência tática. O governo manteve a compostura institucional, o STF reforçou sua autoridade com decisões firmes, e a denúncia da PGR fechou o cerco judicial sem alarde — como quem sabe que, diante de um adversário fragmentado, o mais eficaz é manter a estabilidade, garantir a legalidade e deixar que os inimigos se autodestruam.
Essa fratura da extrema-direita não significa seu fim. Significa que ela perdeu sua vantagem estratégica mais perigosa: a unidade narrativa e a centralização discursiva. O que era uma estrutura coesa de guerra cultural virou um conjunto disforme de projetos pessoais, cálculos eleitorais e ressentimentos cruzados. Eduardo quer vingança. Tarcísio quer o poder. E entre os dois, o bolsonarismo se decompõe em público — sem projeto, sem linguagem comum, sem povo, e, agora, sem futuro coeso.
O Brasil como palco da guerra híbrida global.

Não há como compreender a política brasileira dos últimos vinte anos sem situá-la no centro das transformações geopolíticas do sistema internacional. Desde a recusa do Brasil à ALCA em 2005, passando pelo ciclo desenvolvimentista dos governos Lula e Dilma, até o golpe jurídico-parlamentar de 2016, a ascensão do bolsonarismo e os ataques ao sistema de justiça, o país passou a operar sob o regime de uma guerra não convencional, de longa duração. O Brasil é hoje não apenas um laboratório, mas também um campo de batalha da guerra híbrida global, onde se testam e se refinam tecnologias de desinformação, estratégias de sabotagem institucional, instrumentos de lawfare e mecanismos de captura cognitiva em escala massiva.
A guerra híbrida, não se dá mais pela invasão de territórios com tropas regulares, mas pela ocupação invisível de sistemas de crença, fluxos de dados, instituições democráticas e afetos coletivos. E, nesse campo, o Brasil tornou-se estratégico: possui uma democracia jovem, permeável às tensões das redes; uma elite econômica profundamente subordinada ao capital financeiro internacional; e uma classe política que, em sua maioria, negocia interesses nacionais como quem leiloa ativos num balcão colonial.
O papel das plataformas digitais nesse processo é central. Google, Meta, X (ex-Twitter), Amazon e outras corporações transnacionais de tecnologia atuam não apenas como intermediárias de conteúdo, mas como metaintermediárias cognitivas, operando sobre a formação da percepção pública, a organização da agenda política e a modulação dos afetos sociais. No Brasil, essas plataformas funcionaram — e em muitos casos ainda funcionam — como espaços de corrosão institucional, incubadoras de discurso antissistema e disseminadoras de propaganda de extrema-direita. Elas foram vetores da guerra cultural contra a ciência, a política, os direitos humanos e a soberania nacional.
A retomada do julgamento do Marco Civil da Internet pelo STF, nesse sentido, foi mais do que uma decisão jurídica. Foi um gesto estratégico. Ao formar maioria pela responsabilização das plataformas pelos conteúdos que nelas circulam, o Supremo rompe com a lógica da “fricção zero” — aquela que garante imunidade total aos donos das infraestruturas digitais em nome de uma suposta neutralidade tecnológica. O Brasil, com essa decisão, reposiciona-se no debate global sobre regulação digital. Se na Europa avança a agenda da Digital Services Act, e nos EUA persiste o vácuo jurídico amparado pela Seção 230, o Brasil, com suas próprias contradições, começa a sinalizar que não aceitará mais ser campo passivo de manipulação algorítmica e impunidade corporativa.
Essa virada institucional interna coincide com uma inflexão diplomática internacional. A Cúpula do BRICS, realizada no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho, projetou o Brasil ao centro das disputas globais por soberania, multipolaridade e novas arquiteturas financeiras. A defesa de uma moeda comum para transações, a pauta da desdolarização, o fortalecimento de mecanismos financeiros alternativos ao FMI e a ampliação do bloco com países estratégicos como Irã, Egito e Etiópia, evidenciam que a luta pela soberania digital está profundamente ligada à luta pela soberania econômica e geopolítica.
O campo democrático brasileiro, portanto, atua em dois tabuleiros: um doméstico, em que enfrenta a extrema-direita, a sabotagem institucional e a guerra cultural; e outro internacional, onde precisa se posicionar frente à disputa entre hegemonias tecnológicas — EUA, China, União Europeia —, sem perder de vista o imperativo da soberania informacional. O que está em jogo, no fundo, não é apenas quem governa o Brasil — mas quem governa a informação, os dados, os afetos e a memória coletiva do povo brasileiro.
O ciclo entre maio e julho de 2025 mostrou que parte do sistema institucional compreendeu isso. E agiu. A decisão do STF, a articulação do Itamaraty, a denúncia da PGR e a postura serena do Executivo durante a crise do IOF não são episódios isolados. São manifestações materiais de uma reação em curso — lenta, gradual, tática, mas real — à lógica da colonização cognitiva que marca o capitalismo digital global. O Brasil não é mais apenas um laboratório. Está começando, aos poucos, a se comportar como sujeito estratégico da guerra híbrida em que está inserido.
A geopolítica da soberania e a revalorização do BRICS.
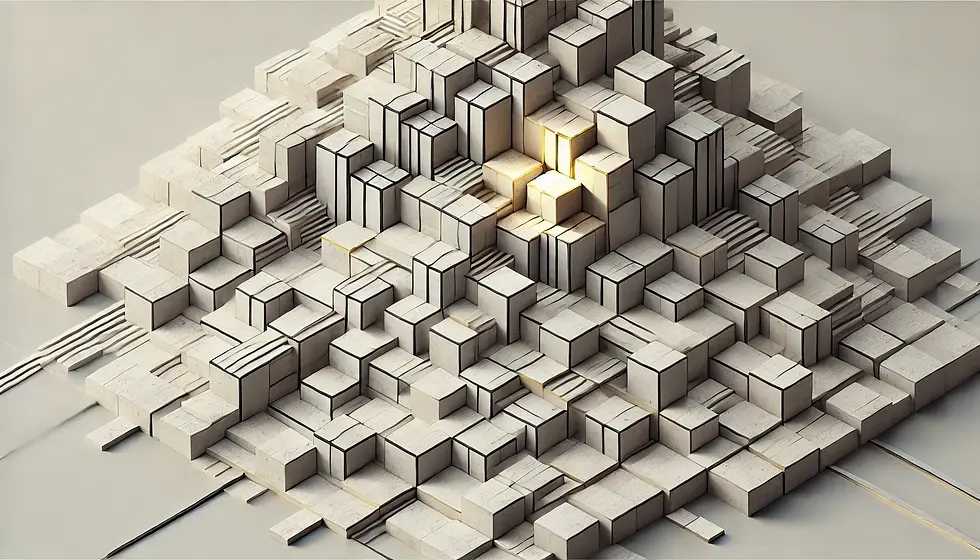
Em tempos normais, uma cúpula internacional é apenas mais um item na agenda diplomática. Em tempos de guerra híbrida permanente, ela pode se transformar em ato estratégico, gesto simbólico e peça-chave no jogo global da soberania. Foi exatamente isso que representou a XVII Cúpula do BRICS, realizada no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho de 2025. Em meio à tensão interna provocada pelas tentativas de sabotagem institucional, pelas chantagens parlamentares e pelas operações psicológicas nas redes, o governo brasileiro recebeu líderes de algumas das maiores economias emergentes do planeta para debater nada menos que os fundamentos do sistema internacional: moeda, comércio, segurança, infraestrutura, energia, dados e, acima de tudo, soberania.
A escolha do Rio como sede não foi meramente protocolar. Com sua herança colonial e sua pulsação social viva, a cidade condensou as contradições e as possibilidades do momento histórico: o Brasil entre ser periferia digital de uma ordem neoliberal decadente ou núcleo ativo de um novo projeto civilizacional, centrado na multipolaridade e na autodeterminação dos povos. E o discurso do presidente Lula, nos painéis principais do evento, foi emblemático: denunciou o poder desproporcional do dólar, criticou a lógica de sanções unilaterais, defendeu a regulação das plataformas digitais e reiterou o compromisso com uma governança global que respeite a diversidade cultural, política e informacional dos Estados.
Mais do que palavras, a cúpula materializou avanços concretos. A proposta de uso de moedas locais no comércio entre membros ganhou força. A agenda sobre soberania digital foi oficialmente incorporada ao plano de ação do bloco. Debateram-se formas de cooperação tecnológica sem submissão às big techs norte-americanas. E, talvez mais importante, reconheceu-se a guerra informacional como um campo legítimo de disputa geopolítica, ao lado das questões financeiras, ambientais e energéticas. Para um Brasil frequentemente tratado como “república de bananas” pelos centros imperiais, acolher e liderar esse tipo de discussão é um movimento de reposicionamento simbólico e estratégico sem precedentes desde a década de 2000.
Internamente, o evento serviu como contra-narrativa ao discurso de que o país estaria isolado ou em crise diplomática. Enquanto setores reacionários insistiam no colapso e na caricatura de um governo fraco, a imprensa internacional mostrava um Brasil com autoridade, articulação e prestígio. Mesmo veículos tradicionalmente críticos, como The Economist e Financial Times, reconheceram a centralidade do país na disputa pela redefinição do Sul Global. Na prática, o Brasil saiu da condição de satélite de interesses geopolíticos externos para se apresentar como arquiteto de um novo projeto de mundo — mais equânime, mais regulado, menos submisso ao capital financeiro e ao colonialismo de dados.
Essa virada diplomática tem efeitos profundos para o campo interno. Ao mostrar-se como ator global, o governo Lula fortalece sua legitimidade doméstica. Ao defender soberania digital em fóruns internacionais, cria lastro para ações de regulação internas, como a responsabilização das plataformas pelo STF. Ao propor alternativas ao dólar e ao sistema SWIFT, abre margem para políticas econômicas menos dependentes do humor de Washington. A soberania, aqui, deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser ferramenta real de enfrentamento da guerra híbrida — uma soberania informacional, financeira, tecnológica, diplomática e narrativa.
Claro, nada disso é isento de contradições. O BRICS é um bloco plural, com diferenças profundas entre seus membros. A China avança em seu próprio projeto hegemônico. A Rússia está imersa em um conflito de longa duração. A Índia tem tensões internas graves. Mas é justamente nesse contexto que o Brasil assume um papel fundamental: o de ator-pivô, que pode equilibrar interesses, mediar disputas e propor convergências. O país que quase foi destruído por um projeto de extrema-direita agora se recoloca no mundo como um construtor de ordem — não pela força militar, mas pela força diplomática, institucional e cultural.
O que se viu no Rio de Janeiro, portanto, não foi apenas uma cúpula. Foi a encenação de um novo tempo político, onde o país se permite — mesmo sob ataque — afirmar sua vontade de existir como Nação soberana. E esse gesto, em si, já é uma forma de resistência à guerra híbrida, que aposta na fragmentação, na apatia e na servidão voluntária ao império da desinformação.
Materialidades da resistência: nem conspiração, nem espontaneísmo.

A tentação de interpretar os acontecimentos recentes como fruto de uma articulação secreta entre Supremo, Executivo, PGR e diplomacia é compreensível — afinal, há sincronia, há coerência tática, há efeitos cumulativos. Mas essa leitura incorre em dois erros graves. O primeiro é cair na armadilha de uma teoria da conspiração invertida, que transfere à institucionalidade democrática a mesma lógica conspiratória que a extrema-direita atribui às universidades, à ONU ou ao “globalismo”. O segundo é desconsiderar que, em contextos de guerra híbrida, a resistência institucional pode emergir não de um centro de comando único, mas da convergência histórica de atores diversos que compartilham uma leitura mínima da ameaça comum.
O que testemunhamos entre maio e julho de 2025 não é o produto de uma “orquestração oculta”, mas sim de uma materialidade concreta da resistência — construída a partir de decisões racionais, de avaliações de risco, de pressões populares, de alianças parciais e de sobrevivências institucionais. O STF não decidiu sobre o Marco Civil porque Lula mandou; decidiu porque seus ministros, diante da escalada de ataques, entenderam que estavam sendo testados como pilar final da ordem democrática. A PGR não denunciou Bolsonaro por pressão política, mas porque os fatos, as provas e a opinião pública não deixavam mais margem para o silêncio histórico que a instituição sustentou durante os anos de Aras.
O mesmo vale para a diplomacia. A Cúpula do BRICS não foi um espetáculo de propaganda, mas um esforço real de reconstrução do papel internacional do Brasil, ancorado na compreensão de que não haverá soberania interna sem soberania externa — e que não há soberania externa possível sem resistir ao domínio informacional e financeiro de poucos sobre muitos. O governo, por sua vez, não planejou esse encadeamento de eventos como uma operação militar. Mas agiu com inteligência política para absorver derrotas, potencializar vitórias e ampliar seu raio de estabilidade.
Essa materialidade da resistência é mais difícil de perceber do que as grandes narrativas conspiratórias porque ela não é espetacular. Ela não se anuncia com fogos de artifício nem com dossiês secretos. Ela opera no ritmo do cotidiano institucional, nos votos de ministros, nas falas discretas de diplomatas, nas sinalizações do mercado, nas decisões de procuradores, nos movimentos das maiorias parlamentares, nas ações de bastidores que evitam o colapso e garantem a governabilidade. Ela é feita, como diria Gramsci, de “moléculas de hegemonia” — dispersas, mas conectadas por um mesmo senso de urgência.
Negar essa racionalidade seria ingenuidade. Supor que ela seja produto de um plano secreto seria delírio. O que há, concretamente, é a formação — talvez inédita desde 2013 — de um bloco institucional contra-hegemônico, ainda que fragmentado, ainda que heterogêneo, ainda que taticamente limitado. Mas, ao contrário do que a extrema-direita esperava, esse bloco não está rendido. E parece, aos poucos, reaprender a agir estrategicamente frente ao inimigo que não recua, que se adapta, que ameaça, que mente, que divide e que tenta destruir a própria ideia de nação.
Essa leitura permite recuperar algo essencial: não há resistência sem organização, mas também não há organização sem acúmulo histórico de lutas, de fraturas, de experiências traumáticas e de aprendizado coletivo. O que emerge em 2025 é o efeito histórico de um país que foi levado ao limite e, no limite, produz uma contraofensiva — ainda incipiente, mas profundamente significativa.
Conclusão: a hora do campo democrático entender a guerra.

A democracia brasileira, nos últimos anos, foi testada em todas as suas fronteiras: jurídicas, cognitivas, simbólicas, econômicas, afetivas. Enfrentou fake news, lawfare, sabotagens legislativas, tentativas de golpe, assassinatos de reputação, campanhas sistemáticas de desinformação e uma cultura política de ódio que corroeu os sentidos mínimos de convívio público. Sobreviveu — não por sorte, mas por resistência. E se hoje, em 2025, voltamos a observar sinais de sincronia entre Executivo, Judiciário, diplomacia e setores do Ministério Público, não devemos tratar isso como um desdobramento espontâneo ou efêmero. Devemos compreender isso como uma janela histórica rara, onde as forças do campo democrático começam a agir com racionalidade de guerra — sem perder a legalidade, sem abdicar da institucionalidade, mas também sem ingenuidade.
Não se trata de militarizar a democracia, nem de importar lógicas autoritárias para enfrentá-las. Trata-se de entender que a guerra que enfrentamos não se dá nas trincheiras da violência física, mas nos circuitos da informação, nas redes de crença, nos aparelhos do Estado, nas subjetividades moduladas pelos algoritmos. E que, para defender a democracia, é preciso disputar esses espaços com competência, com estratégia, com clareza de propósito — e com coragem de agir no tempo certo.
A sequência de eventos entre maio e julho de 2025 nos mostra que é possível reagir à guerra híbrida sem cair na armadilha do desespero nem na inércia do juridicismo cego. O governo soube conter a crise do IOF sem se desestabilizar. O STF respondeu à desinformação com jurisprudência firme. A PGR rompeu o pacto de silêncio e denunciou a tentativa de golpe. O Itamaraty projetou soberania no cenário global. Nenhum desses movimentos, isoladamente, salvaria a democracia. Mas sua conjunção, sua sincronia, sua inteligência tática — ainda que limitada — recompõem o campo democrático como campo de disputa real, e não apenas de defesa abstrata.
É essa recomposição que precisa ser aprofundada, teorizada, expandida e organizada. O campo democrático não pode mais se permitir a ilusão de que basta fazer o certo para vencer. Em tempos de guerra híbrida, vencer exige estratégia, tempo, mobilização popular e articulação institucional simultânea. A extrema-direita compreendeu isso desde 2015. O desafio agora é que o lado democrático compreenda — e, mais que isso, atue como tal.
Estamos diante de uma virada tática que pode não se repetir. A máquina adversária já se reorganiza. As big techs seguem resistentes à regulação. O bolsonarismo ainda habita o fundo das redes e o topo de parte do empresariado. Os ataques voltarão — com novas táticas, novos nomes, novas linguagens. Mas, ao menos por um breve ciclo, o campo democrático venceu batalhas decisivas. E isso, por si só, já rompe a narrativa do colapso inevitável.
É hora, portanto, de abandonar o espontaneísmo e o fatalismo. É hora de abandonar o lamento e a paralisia. É hora de assumir que estamos em guerra — e que, dentro da legalidade, da inteligência institucional e da soberania informacional, também podemos aprender a vencer.




Brilhante! Reconfortante e inspirador. Realmente, temos visto no republicanismo e na tempestividade das açôes um fator de sucesso para as causas nacionais em 2025, ainda que considerada a histórica desvantagem.