A palavra soberania
- 26 de jul. de 2025
- 11 min de leitura
Atualizado: 27 de jul. de 2025
Lula transforma discursos públicos em ferramenta estratégica de disputa simbólica pela soberania, conectando memória popular, reação política e pedagogia nacional

A campanha da Taxação BBB marcou o início de um novo ciclo de enfrentamento político-cultural nas redes. A série lançada pelo PT em junho deste ano, ao nomear bilionários, bancos e bets, construiu uma mensagem combativa que se ancora no sentimento popular de justiça econômica. Hugo Motta, presidente da Câmara, foi o principal articulador da pauta que derrubou o aumento do IOF. O decreto que reajustava o Imposto sobre Operações Financeiras sobre operações cambiais buscava corrigir distorções históricas do sistema tributário brasileiro e fazia parte da agenda de justiça tributária do governo, mirando os fluxos de capital que hoje escapam da contribuição proporcional. Ao brecar o decreto, Hugo Motta atuou em defesa dos interesses do capital financeiro, esvaziando uma política que não afetaria o cidadão comum, mas sim as elites que lucram com a desregulamentação fiscal. O presidente do Congresso tornou-se o alvo simbólico da ação, satirizado por esquetes gerados com inteligência artificial. Foi aí que o governo encontrou sua primeira grande virada simbólica desde que o presidente Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto: a campanha #CongressoInimigoDoPovo, embora carregasse um risco de antipolítica, catalisou o mesmo sentimento de insatisfação com a proteção a interesses corporativos e foi a antessala da reviravolta na popularidade do governo e o primeiro degrau de uma mobilização nacional por soberania nas redes. A estética era caricata, mas juridicamente inatacável: o personagem tinha outro nome, outra aparência, e ainda assim remetia inconfundivelmente ao deputado. Era uma analogia, e foi genial por isso. Ao explorar a ambiguidade entre sátira e crítica política, sem incorrer em fake news ou discurso de ódio, a campanha não apenas furou a bolha como também desarmou os mecanismos tradicionais de censura e vitimização reacionária. A técnica, enfim, foi politizada. E o algoritmo, por um instante, serviu à democracia.
Sem nomear diretamente o quarto “B” (as big techs), a campanha revelou um movimento tático de enfrentamento a estruturas de poder blindadas, ao mesmo tempo em que refletia uma escolha política calculada de não abrir todas as frentes de batalha simultaneamente. O ponto de inflexão veio de fora, quando Donald Trump anunciou tarifas de 50% contra o Brasil, sob a justificativa de uma suposta perseguição política a Jair Bolsonaro. Mas os fatos revelam diferentes motivações que se complementam: a retaliação geopolítica à postura autônoma do Brasil no BRICS, a reação à diplomacia de Lula que reforçou a multipolaridade do Sul Global e, sobretudo, a resposta direta a decisões do STF que atingiram os interesses empresariais de Trump. O bloqueio de contas e a coleta de dados de plataformas como Rumble e Truth Social mexeram onde ele mais sente, no bolso e no império digital que leva seu nome. A tarifa não foi calculada em gabinetes de comércio exterior, mas parida no fígado de um bilionário ferido que viu sua autoridade desafiada por um país que se recusa a ser colônia. Esse movimento confirma a tese de José Luís Fiori de que a política internacional é regida por uma lógica de confrontos permanentes entre projetos de poder, em que toda afirmação de autonomia por parte das nações periféricas tende a ser interpretada como afronta.
O B (não mais mudo) do PT
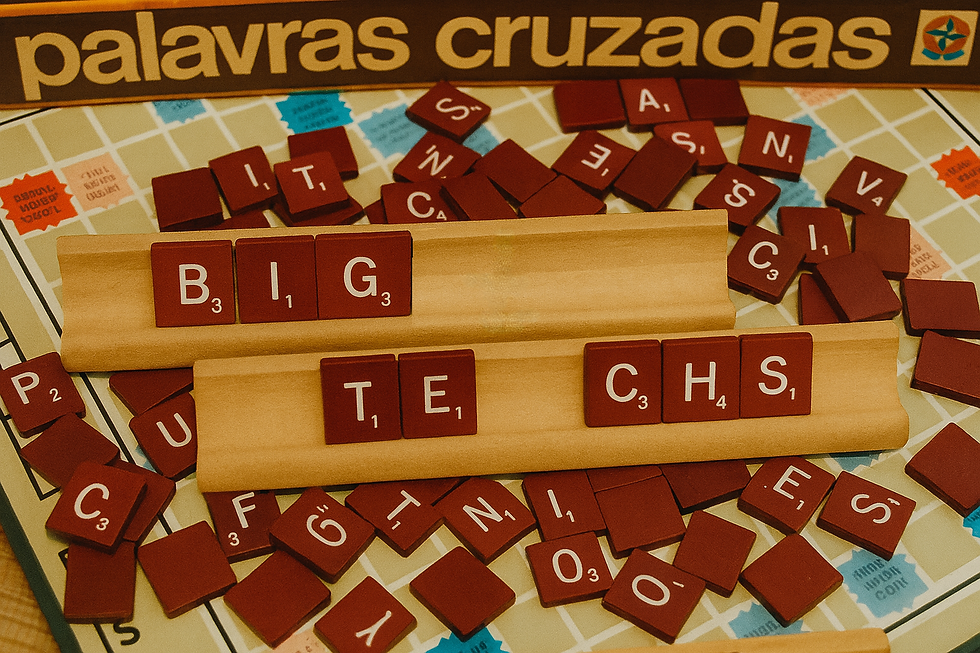
A escalada autoritária de Trump, travestida de política comercial, teve efeito oposto ao pretendido, ativou um senso de defesa coletiva que extrapolou a bolha governista e acendeu a indignação popular contra o novo ataque estrangeiro. Nas plataformas digitais, memes, vídeos e montagens viralizaram, resgatando a memória do sentimento de patriotismo que havia sido sequestrado pelo golpismo bolsonarista, agora recuperado como símbolo de soberania nacional e resistência à tutela internacional.
O presidente estadunidense, acostumado a jogar para a plateia reacionária com provocações calculadas, teve que trancar os comentários de seu Instagram depois de virar alvo de um levante digital sem precedentes vindo do Brasil. Foi atropelado por uma enxurrada de memes, sátiras e vídeos indignados que brotaram de forma espontânea nas redes sociais brasileiras. O que se viu foi o campo democrático se mobilizar de maneira rara em torno de uma palavra excessivamente abstrata e pouco popular: soberania.
No dia seguinte à carta de Trump, Lula escolheu os dois maiores canais de TV aberta do país para responder em alto e bom som. Em uma das entrevistas, ao comentar a tentativa do presidente dos Estados Unidos de defender Bolsonaro, soltou a frase que virou febre: “Não cabe ao presidente dos EUA defender o pai de ninguém.” Bastou. Em poucas horas, “defende meu pai” virou figurinha, dublagem, remix e meme viralizado até em grupo de WhatsApp de condomínio.
Lula percebeu o timing e ocupou o centro da narrativa. Nos dias seguintes, passou a vocalizar o conflito em cadeia nacional, apontando o dedo para o conluio entre o tarifaço norte-americano e os interesses das big techs. E mais do que isso, entendeu que era hora de nomear o inimigo sem rodeios, tirando o “b mudo” de big techs e chamando essas plataformas pelo que de fato são, agentes políticos com interesses comerciais que operam contra a soberania de países periféricos. No Congresso da UNE, falou abertamente em cobrar impostos das empresas digitais dos Estados Unidos e alertou para os riscos da manipulação algorítmica, reforçando que o Brasil não será colônia de dados, nem mercado passivo para corporações estrangeiras.
O clima nas redes era de mobilização febril e Lula soube surfar. No dia 15 de julho, em meio à expectativa pela prisão de Bolsonaro, o escritório do Representante de Comércio dos EUA, o USTR, anunciou a abertura de um processo com base na Seção 301 da legislação americana para investigar o Pix, sob o pretexto de concorrência desleal, movido por lobbies ligados às plataformas. A resposta do governo brasileiro foi rápida e provocadora. Nascia ali a campanha “O Pix é nosso, my friend”, lançada nas redes oficiais com a mensagem clara de que o Pix é seguro, sigiloso e sem taxas. A comunicação mirava o engajamento, mas também a pedagogia política, e tratava soberania como valor estratégico e inegociável.
A reação foi imediata e orgânica. Influenciadores, perfis populares, comunidades, economistas e até parlamentares bolsonaristas passaram a defender o Pix como patrimônio nacional. Por alguns dias, o Brasil viveu um clima de Olimpíadas, em que cada pessoa se tornava especialista em geopolítica, atleta amador de soberania e juiz de fake news.
Essa articulação entre soberania fiscal, defesa do patrimônio tecnológico e enfrentamento à chantagem geopolítica consolidou uma guinada simbólica rara. O que antes era uma ofensiva silenciosa, operada por infraestruturas técnicas opacas, ganhou nome, rosto e função política. E, dessa vez, o governo respondeu à altura.
Esse episódio marca uma ruptura com o moralismo tecnológico que, por vezes, paralisa a esquerda. Em vez de condenar as novas linguagens por seus riscos, a efervescência das redes demonstrou como é possível disputar o campo comunicacional com inteligência, responsabilidade e senso estético. Quando a técnica se alia ao interesse público, ela deixa de ser arma de dominação e passa a ser ferramenta de libertação. Nesse caso, ela desnudou o poder oculto sob a institucionalidade do Congresso, expôs o lobby transnacional das plataformas e denunciou o imperialismo anacrônico dos Estados Unidos.
Soberania no campo jurídico
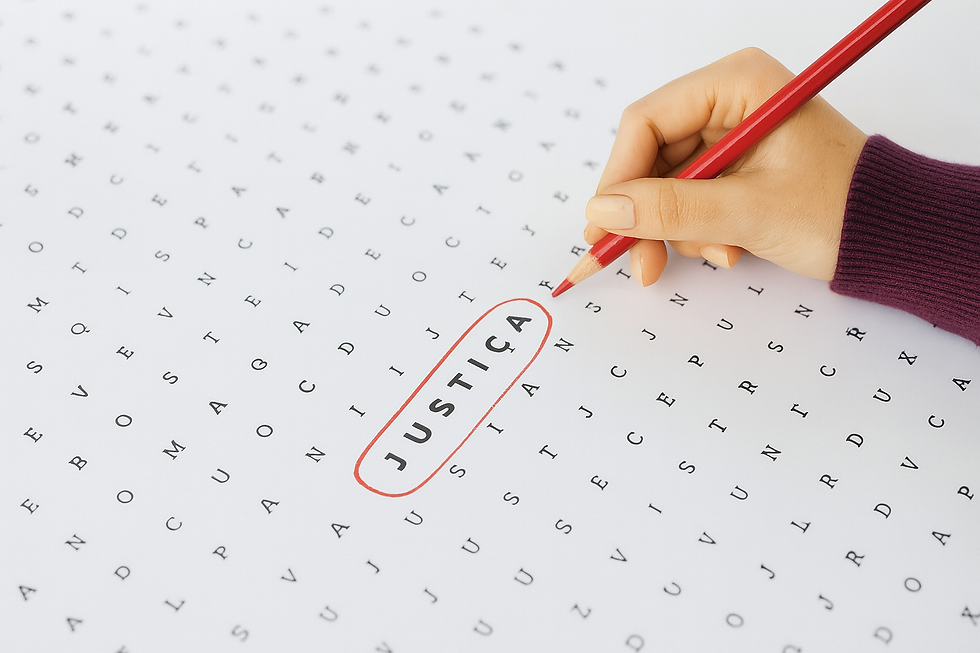
A esse processo de virada simbólica soma-se uma transformação mais recente, porém igualmente contundente: a soberania passou a ser disputada no campo jurídico. A decisão do STF de 18 de julho de 2025, que impôs medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro por coação no curso do processo, obstrução de justiça e atentado à soberania nacional, marcou um ponto de inflexão. O presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, convocou sessão extraordinária virtual para submeter a decisão ao referendo dos demais ministros, reforçando a gravidade institucional do caso.
Em seu despacho, o ministro Alexandre de Moraes sustentou que Bolsonaro e seu filho “praticaram claros e expressos atos executórios e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos, em especial dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania” e que essas condutas visavam “induzir, instigar e auxiliar governo estrangeiro à prática de atos hostis ao Brasil e à ostensiva tentativa de submissão do funcionamento do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos da América”. Citando Machado de Assis, Moraes concluiu: “A soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional”, reafirmando que ela “não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil”.
Essa nova configuração reposiciona o Direito como arena de enfrentamento político, uma inflexão coerente com a perspectiva de Lenio Streck, para quem o Direito pode e deve funcionar como trincheira republicana diante da corrosão institucional promovida por interesses antidemocráticos. A soberania jurídica torna-se trincheira diante da manipulação algorítmica, da desregulamentação financeira e da captura informacional operada por estruturas transnacionais. A medida cautelar não apenas bloqueou ações concretas de sabotagem institucional, como também abriu caminho para um novo vocabulário jurídico capaz de proteger a integridade do Estado em tempos de guerra híbrida. A disputa por soberania, que já estava nas redes, nas ruas e nas urnas, agora também ocupa o centro do tabuleiro judicial.
A disputa por soberania chegou também às cátedras. No dia 25 de julho de 2025, a Faculdade de Direito da USP sediou um ato em defesa da soberania nacional, com participação de entidades da sociedade civil, movimentos populares, juristas e acadêmicos. A carta lida no evento não deixou margem para ambiguidade: “A nação brasileira jamais abrirá mão de sua soberania, tão arduamente conquistada. Mais do que isso, o Brasil sabe como defender sua soberania.” Em sintonia com os recentes embates jurídicos e geopolíticos, o documento reafirmou que o país exige o mesmo respeito que dispensa às demais nações e que “sujeitar-se a esta coação externa significaria abrir mão da nossa própria soberania, pressuposto do Estado Democrático de Direito, e renunciar ao nosso projeto de nação”.
A escolha do Largo de São Francisco resgatou a memória do 11 de agosto de 2022, quando a mesma faculdade foi palco da leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Mas se naquele momento a palavra-chave era democracia, agora é soberania que ocupa o centro do discurso. Em 2022, o gesto mirava o autoritarismo interno. Em 2025, a mobilização mira a ingerência externa sobre o Judiciário, a economia e a informação. A palavra, que antes soava abstrata, agora tem sujeito, forma jurídica e base popular. Não é mais apenas cláusula de preâmbulo, mas terreno de disputa concreta, com inimigos nomeados e instituições mobilizadas. O que era um conceito virou campo de batalha.
Mas se naquele momento a palavra-chave era democracia, agora é soberania que ocupa o centro do discurso. Em 2022, o gesto mirava o autoritarismo interno. Em 2025, a mobilização mira a ingerência externa sobre o Judiciário, a economia e a informação. A palavra, que antes soava abstrata, agora tem sujeito, forma jurídica e base popular. Não é mais apenas cláusula de preâmbulo, mas terreno de disputa concreta, com inimigos nomeados e instituições mobilizadas. O que era um conceito virou campo de batalha.
Soberania no subsolo
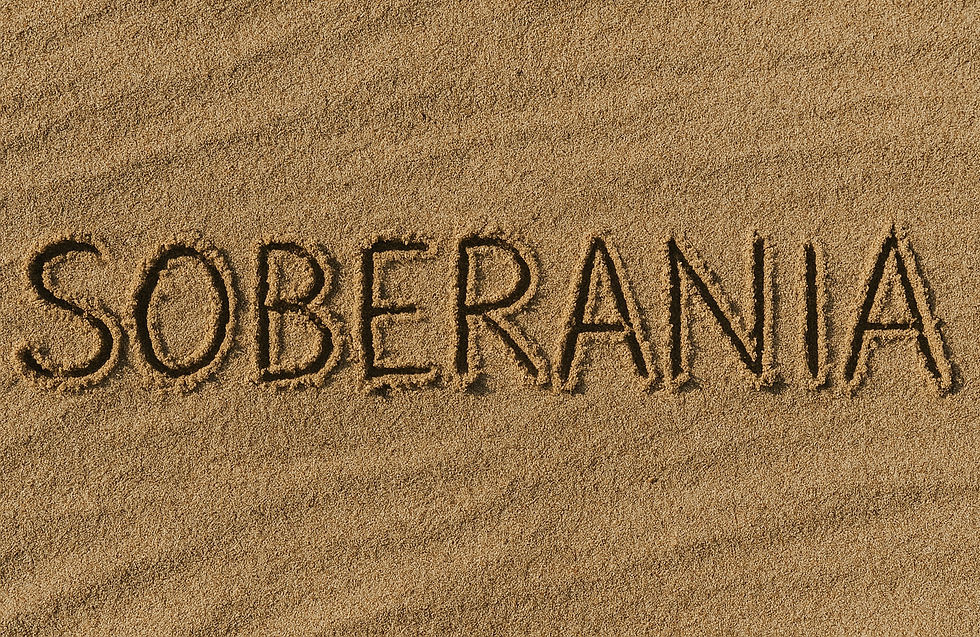
Nos debates recentes, a soberania mineral ganhou força também na agenda da política nacional. O governo brasileiro iniciou a elaboração de uma política pública voltada aos chamados minerais estratégicos, com foco em mapeamento geológico, fortalecimento de cadeias produtivas e inclusão de pequenos empreendimentos no setor. A iniciativa ganhou contornos geopolíticos mais nítidos diante da pressão dos Estados Unidos por acesso facilitado às reservas brasileiras, justamente no momento em que se aproxima a entrada em vigor da sobretaxa anunciada por Donald Trump. No Planalto, o gesto foi interpretado como tentativa de conversão dos recursos minerais em moeda de chantagem diplomática.
O Brasil detém parte expressiva das reservas globais de minerais essenciais para a transição energética, como lítio, grafita, cobre, silício, nióbio, vanádio e terras raras. Mas essa abundância contrasta com a baixa participação nacional nas cadeias de produção e transformação desses insumos. Em muitos casos, o país exporta o minério bruto e importa a tecnologia que ele viabiliza, aprofundando a dependência econômica e tecnológica. Como escrevi no artigo Soberania mineral: o subsolo é político, os minerais não são presentes da natureza, mas alvos de uma disputa geopolítica que exige decisão autônoma sobre o destino do território.
Transformar a riqueza mineral em desenvolvimento exige mais que extração. Exige contrapartidas, transferência de tecnologia, produção local e planejamento estratégico. A crítica de Ladislau Dowbor à lógica extrativista aponta justamente para a necessidade de reverter a dependência mineral por meio da soberania produtiva e do controle social sobre o valor gerado nos territórios. Nesse sentido, a soberania industrial se articula com a soberania fiscal e digital, formando uma frente comum de defesa da capacidade nacional de decidir em nome do interesse coletivo, diante das investidas externas que miram tanto o subsolo quanto os dados e os tributos do país.
Quem nasceu patriotário jamais será soberano

Nada disso passou despercebido pela oposição. A palavra que até recentemente era evitada ou tratada com desdém por setores da extrema direita agora aparece no centro de suas campanhas digitais. A súbita adoção do vocabulário da soberania por parlamentares do PL, inclusive em peças publicitárias impulsionadas com verba paga, revela um movimento tático, mas também involuntário: a admissão de que o campo discursivo mudou de lugar. A tentativa de apropriação, nesse caso, não é só calculada, é também sintomática.
O gesto comunica mais do que o enunciado. Ao recorrer a um léxico que nunca lhe foi próprio, o bolsonarismo revela que perdeu a iniciativa simbólica. Incapaz de sustentar um projeto discursivo próprio diante da reorganização comunicacional do campo progressista, tenta agora reverter o desgaste colando-se a signos que não construiu e cuja força já está ancorada em outra narrativa. Mas quando um grupo político tenta ocupar um enunciado alheio sem transformar o campo de sentidos que lhe dá sustentação, o efeito tende a ser o oposto do pretendido: a adesão soa artificial, tardia e autoacusatória.
Soberania não pode ser só uma palavra
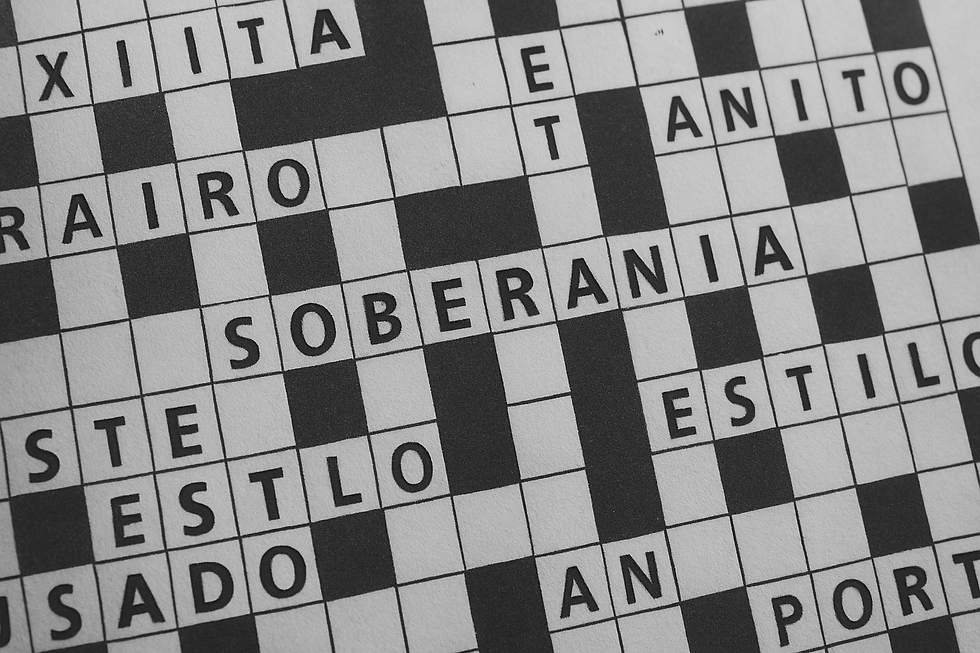
A apropriação forçada de uma linguagem que emergiu das redes como resposta coletiva à submissão do país a interesses externos apenas confirma a potência da reviravolta simbólica em curso. Ao tentar mimetizar um discurso que não domina, a oposição confessa, ainda que por via torta, que a soberania voltou a ser uma linguagem política relevante. A disputa pelo significado da palavra reflete o que Pierre Bourdieu definiu como luta simbólica: a concorrência pelo poder de nomear o mundo social e fazer essa nomeação ser legitimada. Não por adesão, mas por temor. E é justamente aí que reside sua força: quando uma palavra escapa do controle institucional, adquire densidade popular e passa a incomodar quem antes a ignorava, é sinal de que já começou a cumprir sua função histórica.
Mas se a palavra soberania está em disputa e já mostrou seu poder de mobilização, é preciso perguntar com todas as letras: ela será também critério de governo? Porque enquanto o PL tenta sequestrar seu sentido com memes patrocinados, vozes críticas como a de Reynaldo Aragon lembram que não basta anunciar a independência se ela não alcançar o coração da infraestrutura estatal. Não há soberania possível com os dados do povo hospedados em plataformas privadas, sujeitos ao arbítrio normativo de potências estrangeiras.
A Nuvem Soberana, nesse contexto, não pode ser apenas vitrine, precisa ser ruptura. Lançada oficialmente no dia 23 de julho de 2025, ela marca o início de uma nova etapa da transformação digital do Estado brasileiro. Trata-se de uma infraestrutura pública de dados, criada para garantir que as informações sensíveis da administração federal sejam armazenadas e processadas dentro do território nacional, sob controle de empresas estatais como Serpro e Dataprev. A iniciativa nasceu como Nuvem de Governo, mas rapidamente passou a ser chamada de Nuvem Soberana nas comunicações da EBC. A mudança de nome revela mais do que um gesto simbólico, ela tenta fixar um significado. Ao adotar o termo soberana, o governo busca afirmar que está rompendo com a lógica de submissão tecnológica e reassumindo o controle sobre os fluxos digitais do Estado.
Mas é justamente aí que entra o questionamento levantado por Reynaldo Aragon: até que ponto essa soberania é real, e não apenas discursiva? Chamar de soberana uma nuvem que ainda depende de tecnologias, padrões e contratos com grandes corporações estrangeiras pode ser, segundo ele, mais estratégia de marketing político do que ruptura efetiva. O nome antecipa uma conquista que ainda está longe de ser consolidada. A crítica não ignora os avanços, mas denuncia o risco de se naturalizar uma soberania parcial, baseada em infraestrutura controlada apenas em parte, com camadas de governança ainda frágeis e dependência técnica persistente.
Mais do que uma mudança de arquitetura computacional, a Nuvem Soberana representa um reposicionamento do Estado diante da dependência tecnológica imposta pelas big techs. O ambiente digital controlado por servidores públicos, com criptografia nacional e data centers localizados em solo brasileiro, simboliza o esforço de construir uma gramática própria para os dados, os algoritmos e os sistemas que organizam os serviços públicos. O que está em jogo não é só segurança da informação, é o próprio conceito de soberania em um tempo em que a dominação não se dá apenas por armas ou moedas, mas por protocolos, códigos e contratos de licenciamento.
É esse o passo concreto que tensiona o alerta de Aragon. Porque se é verdade que ainda há contratos, dependências e capturas em curso, também é fato que o governo começou a reorganizar as peças do tabuleiro. A soberania informacional não será conquistada de forma instantânea, mas cada servidor nacionalizado, cada protocolo público, cada ruptura normativa representa uma trincheira nesse processo. Soberania, afinal, não se decreta. Se constrói. E agora, mais do que nunca, é hora de levá-la a sério.




Comentários